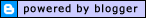O pior de tudo não é o fastio, nem a ansiedade, mas o sentimento de impotência
Sérgio Augusto
Não sei quantos de vocês também se deram conta do fim da quarentena. Ela acabou faz tempo. Na última quinta-feira chegamos ao fim, isso sim, da sesquicentena. Naquela base: sem noção clara da passagem do tempo, sem atinar direito com o que de pior padecemos nesses primeiros 150 dias de isolamento social, se o governo ou a higienização das compras recebidas do supermercado.
Como na ressaca carnavalesca da dupla Zé e Zilda, “ninguém aguenta mais”. Para amenizar a clausura, minorar a solidão e distrair o espírito, internautas não só têm se refugiado em filmes, livros, na música e na culinária, mas também readaptado às redes sociais antigos jogos de salão, lançado desafios à memória, com perguntas capciosas que redundam em listas de filmes, livros, comidas e até momentosos vexames pessoais, ou nos submetido a escolhas embaraçosas, como esta que a atriz Leandra Leal propôs dias atrás:
“Se você só pudesse eliminar um, qual seria: Bozo, o desmatamento, a covid-19 ou o racismo estrutural?”.
Sem o primeiro, o desmatamento poderia sofrer um retrocesso. Como só uma vacina é capaz de eliminar a covid-19, sobra o racismo estrutural, que entre nós já existia antes da chegada do Capitão Coronga ao poder, mas já que ele abriu caminho para sua exacerbação, cravei a primeira opção.
Alguém escreveu, na semana passada, que o impeachment do presidente deixou de ser uma questão política, virou uma questão sanitária. Mais do que isso, uma questão humanitária.
De fato, não podemos viver indefinidamente na caquistocracia implantada no País, à base de mentiras multiplicadas ao infinito pela internet e um esquema de roubalheira familiciar – em dinheiro vivo, como soem obrar os bicheiros. Cheio de dedos e notoriamente dotado de coragem assintomática, Rodrigo Maia continua sentado sobre meia centena de pedidos de impeachment. Impávido, como o leão de O Mágico de Oz.
Em sua coluna da última segunda-feira, na Folha de S. Paulo, o sempre lúcido Celso Rocha de Barros foi além da destituição do presidente: “Não tenho como fazer acontecer, mas deixo registrado para os leitores do futuro: em 2020, nós sabíamos que Bolsonaro merecia ser preso. Todos nós sabíamos”.
Quatro dias antes eu indagara no Twitter se meus seguidores também estavam de saco cheio de tudo. Toquei num nervo. Em poucas horas, computei 32.722 engajamentos ou visualizações, que, no espaço de três dias, bateu nos 700.000 – e ainda contando, que nem os óbitos da pandemia. Todos responderam “sim”. Com essas três letras apenas ou ampliadas com enfáticos esses, iis e emes.
Outros o fizeram com advérbios (“demais”), interjeições (“ô!”, “opa!”, “PQP”), emojis, acréscimos (“de tudo e de todos”, “desse vírus e do governo”, “até de mim mesmo”) e referências cinematográficas (“estou à beira de Um Dia de Fúria”), literárias e musicais. Um tuiteiro não conseguia tirar da cabeça uma poesia de Drummond (Consolo na Praia), outro não parava de cantarolar aquele samba do Chico, que diz “Ouça um bom conselho; que eu lhe dou de graça; inútil dormir que a dor não passa”.
Indignação, desalento (“Não tenho pique pra nada”), exaustão (“Estou um bagaço; nem me reconheço”), desespero (“Já pensei em pegar o vírus e acabar logo com essa angústia”) – foram esses os sentimentos mais manifestados, a par de desabafos tão ou ainda mais atormentados, como rezar todos os dias para que o mundo acabe logo.
O pior de tudo, acrescentei noutra postagem, não é o fastio, nem a ansiedade, nem a angústia de não ter para onde fugir, mas o sentimento de impotência. Dela derivam todos os mal-estares que nos empurram ao abismo da depressão, a disforia terminal. Estamos mal. Muito mal. Nenhum país resiste a um desânimo coletivo dessa magnitude. E a quarentena, não esqueçam, foi só uma agravante.
É um consolo relativamente mixuruca saber que todos estão sofrendo, uns mais, outros menos. Bem menos, por exemplo, se você mora com um mínimo de espaço e conforto e, melhor ainda, na companhia de alguém, embora inevitáveis atritos conviviais, não obrigatoriamente ligados à distribuição equânime de tarefas domésticas, possam destruir, como já destruíram nesta pandemia, inúmeros casamentos, conforme li há dias numa pesquisa.
A vida em comum de Mary McCarthy e Edmund Wilson chegou ao fim, em 1946, depois de uma briga feia do casal em torno do lixo a ser depositado lá fora, ao cabo de um jantar com amigos. Esse episódio humaniza Mary e Wilson, democratiza o barraco conjugal, mas, atenção, não serve de consolo para quem não é nem nunca será Mary McCarthy e Edmund Wilson. Paciência mútua, pois. A menos que a meta de pugnacidade conjugal seja A Guerra dos Roses.
E agora, de bônus, para os devidos fins, o poema Consolo na Praia, de Drummond:
“Vamos, não chores.
A infância está perdida.
A mocidade está perdida.
Mas a vida não se perdeu.
O primeiro amor passou.
O segundo amor passou.
O terceiro amor passou.
Mas o coração continua.
Perdeste o melhor amigo.
Não tentaste qualquer viagem.
Não possuis carro, navio, terra.
Mas tens um cão.
Algumas palavras duras,
em voz mansa, te golpearam.
Nunca, nunca cicatrizam.
Mas, e o humour?
A injustiça não se resolve.
À sombra do mundo errado
murmuraste um protesto tímido.
Mas virão outros.
Tudo somado, devias
precipitar-te, de vez, nas águas.
Estás nu na areia, no vento...
Dorme, meu filho”