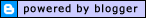This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
Vislumbres
Previous Posts
- Vida de cachorro
- Discurso contra fim da 6 x 1 ecoa a resisencia ao ...
- John Hammond - Mean Old Frisco (1963)
- Rua do Carmo
- Chomsky and Epstein
- Jupiter Maçã - AJ5
- National Maritime Museum
- Ainda está quente
- The Fish Cheer / I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To Die Rag...
- Blue Rondo a La Turk - Klacto Vee Sedstein
Assinar
Comentários [Atom]
Archives
- 13/10/2002 - 20/10/2002
- 20/10/2002 - 27/10/2002
- 27/10/2002 - 03/11/2002
- 03/11/2002 - 10/11/2002
- 10/11/2002 - 17/11/2002
- 17/11/2002 - 24/11/2002
- 24/11/2002 - 01/12/2002
- 01/12/2002 - 08/12/2002
- 08/12/2002 - 15/12/2002
- 15/12/2002 - 22/12/2002
- 22/12/2002 - 29/12/2002
- 29/12/2002 - 05/01/2003
- 05/01/2003 - 12/01/2003
- 12/01/2003 - 19/01/2003
- 19/01/2003 - 26/01/2003
- 26/01/2003 - 02/02/2003
- 02/02/2003 - 09/02/2003
- 09/02/2003 - 16/02/2003
- 16/02/2003 - 23/02/2003
- 23/02/2003 - 02/03/2003
- 02/03/2003 - 09/03/2003
- 09/03/2003 - 16/03/2003
- 16/03/2003 - 23/03/2003
- 23/03/2003 - 30/03/2003
- 30/03/2003 - 06/04/2003
- 06/04/2003 - 13/04/2003
- 13/04/2003 - 20/04/2003
- 20/04/2003 - 27/04/2003
- 27/04/2003 - 04/05/2003
- 04/05/2003 - 11/05/2003
- 11/05/2003 - 18/05/2003
- 18/05/2003 - 25/05/2003
- 25/05/2003 - 01/06/2003
- 01/06/2003 - 08/06/2003
- 08/06/2003 - 15/06/2003
- 15/06/2003 - 22/06/2003
- 22/06/2003 - 29/06/2003
- 29/06/2003 - 06/07/2003
- 06/07/2003 - 13/07/2003
- 13/07/2003 - 20/07/2003
- 20/07/2003 - 27/07/2003
- 27/07/2003 - 03/08/2003
- 17/08/2003 - 24/08/2003
- 24/08/2003 - 31/08/2003
- 31/08/2003 - 07/09/2003
- 07/09/2003 - 14/09/2003
- 14/09/2003 - 21/09/2003
- 21/09/2003 - 28/09/2003
- 28/09/2003 - 05/10/2003
- 05/10/2003 - 12/10/2003
- 12/10/2003 - 19/10/2003
- 19/10/2003 - 26/10/2003
- 26/10/2003 - 02/11/2003
- 02/11/2003 - 09/11/2003
- 09/11/2003 - 16/11/2003
- 16/11/2003 - 23/11/2003
- 23/11/2003 - 30/11/2003
- 30/11/2003 - 07/12/2003
- 07/12/2003 - 14/12/2003
- 14/12/2003 - 21/12/2003
- 21/12/2003 - 28/12/2003
- 28/12/2003 - 04/01/2004
- 04/01/2004 - 11/01/2004
- 11/01/2004 - 18/01/2004
- 18/01/2004 - 25/01/2004
- 25/01/2004 - 01/02/2004
- 01/02/2004 - 08/02/2004
- 08/02/2004 - 15/02/2004
- 15/02/2004 - 22/02/2004
- 22/02/2004 - 29/02/2004
- 29/02/2004 - 07/03/2004
- 07/03/2004 - 14/03/2004
- 14/03/2004 - 21/03/2004
- 21/03/2004 - 28/03/2004
- 28/03/2004 - 04/04/2004
- 04/04/2004 - 11/04/2004
- 11/04/2004 - 18/04/2004
- 18/04/2004 - 25/04/2004
- 25/04/2004 - 02/05/2004
- 02/05/2004 - 09/05/2004
- 09/05/2004 - 16/05/2004
- 16/05/2004 - 23/05/2004
- 23/05/2004 - 30/05/2004
- 30/05/2004 - 06/06/2004
- 06/06/2004 - 13/06/2004
- 13/06/2004 - 20/06/2004
- 20/06/2004 - 27/06/2004
- 27/06/2004 - 04/07/2004
- 04/07/2004 - 11/07/2004
- 11/07/2004 - 18/07/2004
- 18/07/2004 - 25/07/2004
- 25/07/2004 - 01/08/2004
- 01/08/2004 - 08/08/2004
- 08/08/2004 - 15/08/2004
- 15/08/2004 - 22/08/2004
- 22/08/2004 - 29/08/2004
- 29/08/2004 - 05/09/2004
- 05/09/2004 - 12/09/2004
- 12/09/2004 - 19/09/2004
- 19/09/2004 - 26/09/2004
- 26/09/2004 - 03/10/2004
- 03/10/2004 - 10/10/2004
- 10/10/2004 - 17/10/2004
- 17/10/2004 - 24/10/2004
- 24/10/2004 - 31/10/2004
- 31/10/2004 - 07/11/2004
- 07/11/2004 - 14/11/2004
- 14/11/2004 - 21/11/2004
- 21/11/2004 - 28/11/2004
- 28/11/2004 - 05/12/2004
- 05/12/2004 - 12/12/2004
- 12/12/2004 - 19/12/2004
- 19/12/2004 - 26/12/2004
- 26/12/2004 - 02/01/2005
- 02/01/2005 - 09/01/2005
- 09/01/2005 - 16/01/2005
- 16/01/2005 - 23/01/2005
- 23/01/2005 - 30/01/2005
- 30/01/2005 - 06/02/2005
- 06/02/2005 - 13/02/2005
- 13/02/2005 - 20/02/2005
- 20/02/2005 - 27/02/2005
- 27/02/2005 - 06/03/2005
- 06/03/2005 - 13/03/2005
- 13/03/2005 - 20/03/2005
- 20/03/2005 - 27/03/2005
- 27/03/2005 - 03/04/2005
- 03/04/2005 - 10/04/2005
- 10/04/2005 - 17/04/2005
- 17/04/2005 - 24/04/2005
- 04/12/2005 - 11/12/2005
- 25/12/2005 - 01/01/2006
- 16/04/2006 - 23/04/2006
- 30/07/2006 - 06/08/2006
- 06/08/2006 - 13/08/2006
- 13/08/2006 - 20/08/2006
- 20/08/2006 - 27/08/2006
- 27/08/2006 - 03/09/2006
- 03/09/2006 - 10/09/2006
- 10/09/2006 - 17/09/2006
- 17/09/2006 - 24/09/2006
- 24/09/2006 - 01/10/2006
- 01/10/2006 - 08/10/2006
- 08/10/2006 - 15/10/2006
- 15/10/2006 - 22/10/2006
- 22/10/2006 - 29/10/2006
- 29/10/2006 - 05/11/2006
- 05/11/2006 - 12/11/2006
- 17/12/2006 - 24/12/2006
- 21/01/2007 - 28/01/2007
- 28/01/2007 - 04/02/2007
- 04/02/2007 - 11/02/2007
- 18/02/2007 - 25/02/2007
- 04/03/2007 - 11/03/2007
- 11/03/2007 - 18/03/2007
- 18/03/2007 - 25/03/2007
- 25/03/2007 - 01/04/2007
- 01/04/2007 - 08/04/2007
- 08/04/2007 - 15/04/2007
- 15/04/2007 - 22/04/2007
- 22/04/2007 - 29/04/2007
- 29/04/2007 - 06/05/2007
- 06/05/2007 - 13/05/2007
- 13/05/2007 - 20/05/2007
- 20/05/2007 - 27/05/2007
- 27/05/2007 - 03/06/2007
- 03/06/2007 - 10/06/2007
- 10/06/2007 - 17/06/2007
- 17/06/2007 - 24/06/2007
- 24/06/2007 - 01/07/2007
- 01/07/2007 - 08/07/2007
- 08/07/2007 - 15/07/2007
- 15/07/2007 - 22/07/2007
- 22/07/2007 - 29/07/2007
- 09/09/2007 - 16/09/2007
- 16/09/2007 - 23/09/2007
- 23/09/2007 - 30/09/2007
- 30/09/2007 - 07/10/2007
- 07/10/2007 - 14/10/2007
- 04/11/2007 - 11/11/2007
- 11/11/2007 - 18/11/2007
- 18/11/2007 - 25/11/2007
- 25/11/2007 - 02/12/2007
- 02/12/2007 - 09/12/2007
- 09/12/2007 - 16/12/2007
- 13/01/2008 - 20/01/2008
- 20/01/2008 - 27/01/2008
- 27/01/2008 - 03/02/2008
- 03/02/2008 - 10/02/2008
- 10/02/2008 - 17/02/2008
- 17/02/2008 - 24/02/2008
- 02/03/2008 - 09/03/2008
- 16/03/2008 - 23/03/2008
- 23/03/2008 - 30/03/2008
- 30/03/2008 - 06/04/2008
- 27/04/2008 - 04/05/2008
- 29/06/2008 - 06/07/2008
- 06/07/2008 - 13/07/2008
- 13/07/2008 - 20/07/2008
- 20/07/2008 - 27/07/2008
- 27/07/2008 - 03/08/2008
- 03/08/2008 - 10/08/2008
- 17/08/2008 - 24/08/2008
- 24/08/2008 - 31/08/2008
- 07/09/2008 - 14/09/2008
- 14/09/2008 - 21/09/2008
- 21/09/2008 - 28/09/2008
- 28/09/2008 - 05/10/2008
- 05/10/2008 - 12/10/2008
- 12/10/2008 - 19/10/2008
- 19/10/2008 - 26/10/2008
- 26/10/2008 - 02/11/2008
- 02/11/2008 - 09/11/2008
- 07/12/2008 - 14/12/2008
- 14/12/2008 - 21/12/2008
- 21/12/2008 - 28/12/2008
- 28/12/2008 - 04/01/2009
- 04/01/2009 - 11/01/2009
- 11/01/2009 - 18/01/2009
- 18/01/2009 - 25/01/2009
- 25/01/2009 - 01/02/2009
- 08/02/2009 - 15/02/2009
- 15/02/2009 - 22/02/2009
- 22/02/2009 - 01/03/2009
- 01/03/2009 - 08/03/2009
- 08/03/2009 - 15/03/2009
- 15/03/2009 - 22/03/2009
- 22/03/2009 - 29/03/2009
- 29/03/2009 - 05/04/2009
- 05/04/2009 - 12/04/2009
- 12/04/2009 - 19/04/2009
- 19/04/2009 - 26/04/2009
- 26/04/2009 - 03/05/2009
- 03/05/2009 - 10/05/2009
- 10/05/2009 - 17/05/2009
- 17/05/2009 - 24/05/2009
- 24/05/2009 - 31/05/2009
- 31/05/2009 - 07/06/2009
- 07/06/2009 - 14/06/2009
- 14/06/2009 - 21/06/2009
- 21/06/2009 - 28/06/2009
- 28/06/2009 - 05/07/2009
- 05/07/2009 - 12/07/2009
- 12/07/2009 - 19/07/2009
- 19/07/2009 - 26/07/2009
- 26/07/2009 - 02/08/2009
- 02/08/2009 - 09/08/2009
- 09/08/2009 - 16/08/2009
- 16/08/2009 - 23/08/2009
- 23/08/2009 - 30/08/2009
- 30/08/2009 - 06/09/2009
- 06/09/2009 - 13/09/2009
- 13/09/2009 - 20/09/2009
- 20/09/2009 - 27/09/2009
- 27/09/2009 - 04/10/2009
- 04/10/2009 - 11/10/2009
- 11/10/2009 - 18/10/2009
- 18/10/2009 - 25/10/2009
- 25/10/2009 - 01/11/2009
- 01/11/2009 - 08/11/2009
- 08/11/2009 - 15/11/2009
- 15/11/2009 - 22/11/2009
- 22/11/2009 - 29/11/2009
- 29/11/2009 - 06/12/2009
- 06/12/2009 - 13/12/2009
- 13/12/2009 - 20/12/2009
- 20/12/2009 - 27/12/2009
- 27/12/2009 - 03/01/2010
- 03/01/2010 - 10/01/2010
- 10/01/2010 - 17/01/2010
- 17/01/2010 - 24/01/2010
- 24/01/2010 - 31/01/2010
- 31/01/2010 - 07/02/2010
- 07/02/2010 - 14/02/2010
- 14/02/2010 - 21/02/2010
- 21/02/2010 - 28/02/2010
- 28/02/2010 - 07/03/2010
- 07/03/2010 - 14/03/2010
- 14/03/2010 - 21/03/2010
- 21/03/2010 - 28/03/2010
- 28/03/2010 - 04/04/2010
- 04/04/2010 - 11/04/2010
- 11/04/2010 - 18/04/2010
- 25/04/2010 - 02/05/2010
- 02/05/2010 - 09/05/2010
- 09/05/2010 - 16/05/2010
- 16/05/2010 - 23/05/2010
- 23/05/2010 - 30/05/2010
- 30/05/2010 - 06/06/2010
- 06/06/2010 - 13/06/2010
- 13/06/2010 - 20/06/2010
- 20/06/2010 - 27/06/2010
- 04/07/2010 - 11/07/2010
- 11/07/2010 - 18/07/2010
- 18/07/2010 - 25/07/2010
- 25/07/2010 - 01/08/2010
- 08/08/2010 - 15/08/2010
- 15/08/2010 - 22/08/2010
- 22/08/2010 - 29/08/2010
- 29/08/2010 - 05/09/2010
- 05/09/2010 - 12/09/2010
- 12/09/2010 - 19/09/2010
- 19/09/2010 - 26/09/2010
- 26/09/2010 - 03/10/2010
- 24/10/2010 - 31/10/2010
- 21/11/2010 - 28/11/2010
- 28/11/2010 - 05/12/2010
- 05/12/2010 - 12/12/2010
- 12/12/2010 - 19/12/2010
- 19/12/2010 - 26/12/2010
- 26/12/2010 - 02/01/2011
- 02/01/2011 - 09/01/2011
- 09/01/2011 - 16/01/2011
- 16/01/2011 - 23/01/2011
- 23/01/2011 - 30/01/2011
- 30/01/2011 - 06/02/2011
- 06/02/2011 - 13/02/2011
- 13/02/2011 - 20/02/2011
- 20/02/2011 - 27/02/2011
- 27/02/2011 - 06/03/2011
- 06/03/2011 - 13/03/2011
- 13/03/2011 - 20/03/2011
- 20/03/2011 - 27/03/2011
- 27/03/2011 - 03/04/2011
- 03/04/2011 - 10/04/2011
- 10/04/2011 - 17/04/2011
- 17/04/2011 - 24/04/2011
- 24/04/2011 - 01/05/2011
- 01/05/2011 - 08/05/2011
- 08/05/2011 - 15/05/2011
- 15/05/2011 - 22/05/2011
- 22/05/2011 - 29/05/2011
- 29/05/2011 - 05/06/2011
- 05/06/2011 - 12/06/2011
- 12/06/2011 - 19/06/2011
- 19/06/2011 - 26/06/2011
- 26/06/2011 - 03/07/2011
- 03/07/2011 - 10/07/2011
- 10/07/2011 - 17/07/2011
- 17/07/2011 - 24/07/2011
- 24/07/2011 - 31/07/2011
- 31/07/2011 - 07/08/2011
- 07/08/2011 - 14/08/2011
- 14/08/2011 - 21/08/2011
- 21/08/2011 - 28/08/2011
- 28/08/2011 - 04/09/2011
- 04/09/2011 - 11/09/2011
- 11/09/2011 - 18/09/2011
- 18/09/2011 - 25/09/2011
- 25/09/2011 - 02/10/2011
- 02/10/2011 - 09/10/2011
- 09/10/2011 - 16/10/2011
- 16/10/2011 - 23/10/2011
- 23/10/2011 - 30/10/2011
- 30/10/2011 - 06/11/2011
- 06/11/2011 - 13/11/2011
- 13/11/2011 - 20/11/2011
- 20/11/2011 - 27/11/2011
- 27/11/2011 - 04/12/2011
- 04/12/2011 - 11/12/2011
- 11/12/2011 - 18/12/2011
- 18/12/2011 - 25/12/2011
- 25/12/2011 - 01/01/2012
- 01/01/2012 - 08/01/2012
- 08/01/2012 - 15/01/2012
- 15/01/2012 - 22/01/2012
- 22/01/2012 - 29/01/2012
- 29/01/2012 - 05/02/2012
- 05/02/2012 - 12/02/2012
- 12/02/2012 - 19/02/2012
- 19/02/2012 - 26/02/2012
- 26/02/2012 - 04/03/2012
- 04/03/2012 - 11/03/2012
- 11/03/2012 - 18/03/2012
- 18/03/2012 - 25/03/2012
- 25/03/2012 - 01/04/2012
- 01/04/2012 - 08/04/2012
- 08/04/2012 - 15/04/2012
- 15/04/2012 - 22/04/2012
- 22/04/2012 - 29/04/2012
- 29/04/2012 - 06/05/2012
- 06/05/2012 - 13/05/2012
- 13/05/2012 - 20/05/2012
- 20/05/2012 - 27/05/2012
- 27/05/2012 - 03/06/2012
- 03/06/2012 - 10/06/2012
- 10/06/2012 - 17/06/2012
- 17/06/2012 - 24/06/2012
- 24/06/2012 - 01/07/2012
- 01/07/2012 - 08/07/2012
- 08/07/2012 - 15/07/2012
- 15/07/2012 - 22/07/2012
- 22/07/2012 - 29/07/2012
- 29/07/2012 - 05/08/2012
- 05/08/2012 - 12/08/2012
- 12/08/2012 - 19/08/2012
- 19/08/2012 - 26/08/2012
- 26/08/2012 - 02/09/2012
- 02/09/2012 - 09/09/2012
- 09/09/2012 - 16/09/2012
- 16/09/2012 - 23/09/2012
- 23/09/2012 - 30/09/2012
- 30/09/2012 - 07/10/2012
- 07/10/2012 - 14/10/2012
- 14/10/2012 - 21/10/2012
- 21/10/2012 - 28/10/2012
- 28/10/2012 - 04/11/2012
- 04/11/2012 - 11/11/2012
- 11/11/2012 - 18/11/2012
- 18/11/2012 - 25/11/2012
- 25/11/2012 - 02/12/2012
- 02/12/2012 - 09/12/2012
- 09/12/2012 - 16/12/2012
- 16/12/2012 - 23/12/2012
- 23/12/2012 - 30/12/2012
- 30/12/2012 - 06/01/2013
- 06/01/2013 - 13/01/2013
- 13/01/2013 - 20/01/2013
- 20/01/2013 - 27/01/2013
- 27/01/2013 - 03/02/2013
- 03/02/2013 - 10/02/2013
- 10/02/2013 - 17/02/2013
- 17/02/2013 - 24/02/2013
- 24/02/2013 - 03/03/2013
- 03/03/2013 - 10/03/2013
- 10/03/2013 - 17/03/2013
- 17/03/2013 - 24/03/2013
- 24/03/2013 - 31/03/2013
- 31/03/2013 - 07/04/2013
- 07/04/2013 - 14/04/2013
- 14/04/2013 - 21/04/2013
- 21/04/2013 - 28/04/2013
- 28/04/2013 - 05/05/2013
- 05/05/2013 - 12/05/2013
- 12/05/2013 - 19/05/2013
- 19/05/2013 - 26/05/2013
- 26/05/2013 - 02/06/2013
- 02/06/2013 - 09/06/2013
- 09/06/2013 - 16/06/2013
- 16/06/2013 - 23/06/2013
- 23/06/2013 - 30/06/2013
- 30/06/2013 - 07/07/2013
- 07/07/2013 - 14/07/2013
- 14/07/2013 - 21/07/2013
- 21/07/2013 - 28/07/2013
- 28/07/2013 - 04/08/2013
- 04/08/2013 - 11/08/2013
- 11/08/2013 - 18/08/2013
- 18/08/2013 - 25/08/2013
- 25/08/2013 - 01/09/2013
- 01/09/2013 - 08/09/2013
- 08/09/2013 - 15/09/2013
- 15/09/2013 - 22/09/2013
- 22/09/2013 - 29/09/2013
- 29/09/2013 - 06/10/2013
- 06/10/2013 - 13/10/2013
- 13/10/2013 - 20/10/2013
- 20/10/2013 - 27/10/2013
- 27/10/2013 - 03/11/2013
- 03/11/2013 - 10/11/2013
- 10/11/2013 - 17/11/2013
- 17/11/2013 - 24/11/2013
- 24/11/2013 - 01/12/2013
- 08/12/2013 - 15/12/2013
- 15/12/2013 - 22/12/2013
- 22/12/2013 - 29/12/2013
- 29/12/2013 - 05/01/2014
- 05/01/2014 - 12/01/2014
- 12/01/2014 - 19/01/2014
- 19/01/2014 - 26/01/2014
- 26/01/2014 - 02/02/2014
- 02/02/2014 - 09/02/2014
- 09/02/2014 - 16/02/2014
- 16/02/2014 - 23/02/2014
- 23/02/2014 - 02/03/2014
- 02/03/2014 - 09/03/2014
- 09/03/2014 - 16/03/2014
- 16/03/2014 - 23/03/2014
- 23/03/2014 - 30/03/2014
- 30/03/2014 - 06/04/2014
- 06/04/2014 - 13/04/2014
- 13/04/2014 - 20/04/2014
- 20/04/2014 - 27/04/2014
- 27/04/2014 - 04/05/2014
- 04/05/2014 - 11/05/2014
- 11/05/2014 - 18/05/2014
- 18/05/2014 - 25/05/2014
- 25/05/2014 - 01/06/2014
- 01/06/2014 - 08/06/2014
- 08/06/2014 - 15/06/2014
- 15/06/2014 - 22/06/2014
- 22/06/2014 - 29/06/2014
- 29/06/2014 - 06/07/2014
- 06/07/2014 - 13/07/2014
- 13/07/2014 - 20/07/2014
- 20/07/2014 - 27/07/2014
- 27/07/2014 - 03/08/2014
- 03/08/2014 - 10/08/2014
- 10/08/2014 - 17/08/2014
- 17/08/2014 - 24/08/2014
- 24/08/2014 - 31/08/2014
- 31/08/2014 - 07/09/2014
- 07/09/2014 - 14/09/2014
- 14/09/2014 - 21/09/2014
- 21/09/2014 - 28/09/2014
- 28/09/2014 - 05/10/2014
- 05/10/2014 - 12/10/2014
- 12/10/2014 - 19/10/2014
- 19/10/2014 - 26/10/2014
- 26/10/2014 - 02/11/2014
- 02/11/2014 - 09/11/2014
- 09/11/2014 - 16/11/2014
- 16/11/2014 - 23/11/2014
- 23/11/2014 - 30/11/2014
- 30/11/2014 - 07/12/2014
- 07/12/2014 - 14/12/2014
- 14/12/2014 - 21/12/2014
- 21/12/2014 - 28/12/2014
- 28/12/2014 - 04/01/2015
- 04/01/2015 - 11/01/2015
- 11/01/2015 - 18/01/2015
- 18/01/2015 - 25/01/2015
- 25/01/2015 - 01/02/2015
- 01/02/2015 - 08/02/2015
- 08/02/2015 - 15/02/2015
- 15/02/2015 - 22/02/2015
- 22/02/2015 - 01/03/2015
- 01/03/2015 - 08/03/2015
- 08/03/2015 - 15/03/2015
- 15/03/2015 - 22/03/2015
- 22/03/2015 - 29/03/2015
- 29/03/2015 - 05/04/2015
- 05/04/2015 - 12/04/2015
- 12/04/2015 - 19/04/2015
- 19/04/2015 - 26/04/2015
- 26/04/2015 - 03/05/2015
- 03/05/2015 - 10/05/2015
- 10/05/2015 - 17/05/2015
- 17/05/2015 - 24/05/2015
- 24/05/2015 - 31/05/2015
- 31/05/2015 - 07/06/2015
- 07/06/2015 - 14/06/2015
- 14/06/2015 - 21/06/2015
- 21/06/2015 - 28/06/2015
- 28/06/2015 - 05/07/2015
- 05/07/2015 - 12/07/2015
- 12/07/2015 - 19/07/2015
- 19/07/2015 - 26/07/2015
- 26/07/2015 - 02/08/2015
- 02/08/2015 - 09/08/2015
- 09/08/2015 - 16/08/2015
- 16/08/2015 - 23/08/2015
- 23/08/2015 - 30/08/2015
- 30/08/2015 - 06/09/2015
- 06/09/2015 - 13/09/2015
- 13/09/2015 - 20/09/2015
- 20/09/2015 - 27/09/2015
- 04/10/2015 - 11/10/2015
- 11/10/2015 - 18/10/2015
- 18/10/2015 - 25/10/2015
- 25/10/2015 - 01/11/2015
- 01/11/2015 - 08/11/2015
- 08/11/2015 - 15/11/2015
- 15/11/2015 - 22/11/2015
- 22/11/2015 - 29/11/2015
- 29/11/2015 - 06/12/2015
- 06/12/2015 - 13/12/2015
- 13/12/2015 - 20/12/2015
- 20/12/2015 - 27/12/2015
- 27/12/2015 - 03/01/2016
- 03/01/2016 - 10/01/2016
- 10/01/2016 - 17/01/2016
- 17/01/2016 - 24/01/2016
- 24/01/2016 - 31/01/2016
- 31/01/2016 - 07/02/2016
- 07/02/2016 - 14/02/2016
- 14/02/2016 - 21/02/2016
- 21/02/2016 - 28/02/2016
- 28/02/2016 - 06/03/2016
- 06/03/2016 - 13/03/2016
- 13/03/2016 - 20/03/2016
- 20/03/2016 - 27/03/2016
- 27/03/2016 - 03/04/2016
- 03/04/2016 - 10/04/2016
- 10/04/2016 - 17/04/2016
- 17/04/2016 - 24/04/2016
- 24/04/2016 - 01/05/2016
- 01/05/2016 - 08/05/2016
- 08/05/2016 - 15/05/2016
- 15/05/2016 - 22/05/2016
- 22/05/2016 - 29/05/2016
- 29/05/2016 - 05/06/2016
- 05/06/2016 - 12/06/2016
- 12/06/2016 - 19/06/2016
- 19/06/2016 - 26/06/2016
- 26/06/2016 - 03/07/2016
- 03/07/2016 - 10/07/2016
- 10/07/2016 - 17/07/2016
- 17/07/2016 - 24/07/2016
- 24/07/2016 - 31/07/2016
- 31/07/2016 - 07/08/2016
- 07/08/2016 - 14/08/2016
- 14/08/2016 - 21/08/2016
- 21/08/2016 - 28/08/2016
- 28/08/2016 - 04/09/2016
- 04/09/2016 - 11/09/2016
- 11/09/2016 - 18/09/2016
- 18/09/2016 - 25/09/2016
- 25/09/2016 - 02/10/2016
- 02/10/2016 - 09/10/2016
- 09/10/2016 - 16/10/2016
- 16/10/2016 - 23/10/2016
- 23/10/2016 - 30/10/2016
- 30/10/2016 - 06/11/2016
- 06/11/2016 - 13/11/2016
- 13/11/2016 - 20/11/2016
- 20/11/2016 - 27/11/2016
- 27/11/2016 - 04/12/2016
- 04/12/2016 - 11/12/2016
- 11/12/2016 - 18/12/2016
- 18/12/2016 - 25/12/2016
- 25/12/2016 - 01/01/2017
- 01/01/2017 - 08/01/2017
- 08/01/2017 - 15/01/2017
- 15/01/2017 - 22/01/2017
- 22/01/2017 - 29/01/2017
- 29/01/2017 - 05/02/2017
- 05/02/2017 - 12/02/2017
- 12/02/2017 - 19/02/2017
- 19/02/2017 - 26/02/2017
- 26/02/2017 - 05/03/2017
- 05/03/2017 - 12/03/2017
- 12/03/2017 - 19/03/2017
- 19/03/2017 - 26/03/2017
- 26/03/2017 - 02/04/2017
- 02/04/2017 - 09/04/2017
- 09/04/2017 - 16/04/2017
- 16/04/2017 - 23/04/2017
- 23/04/2017 - 30/04/2017
- 30/04/2017 - 07/05/2017
- 07/05/2017 - 14/05/2017
- 14/05/2017 - 21/05/2017
- 21/05/2017 - 28/05/2017
- 28/05/2017 - 04/06/2017
- 04/06/2017 - 11/06/2017
- 11/06/2017 - 18/06/2017
- 18/06/2017 - 25/06/2017
- 25/06/2017 - 02/07/2017
- 02/07/2017 - 09/07/2017
- 09/07/2017 - 16/07/2017
- 16/07/2017 - 23/07/2017
- 23/07/2017 - 30/07/2017
- 30/07/2017 - 06/08/2017
- 06/08/2017 - 13/08/2017
- 13/08/2017 - 20/08/2017
- 20/08/2017 - 27/08/2017
- 27/08/2017 - 03/09/2017
- 03/09/2017 - 10/09/2017
- 10/09/2017 - 17/09/2017
- 17/09/2017 - 24/09/2017
- 24/09/2017 - 01/10/2017
- 01/10/2017 - 08/10/2017
- 08/10/2017 - 15/10/2017
- 15/10/2017 - 22/10/2017
- 22/10/2017 - 29/10/2017
- 29/10/2017 - 05/11/2017
- 05/11/2017 - 12/11/2017
- 12/11/2017 - 19/11/2017
- 19/11/2017 - 26/11/2017
- 26/11/2017 - 03/12/2017
- 03/12/2017 - 10/12/2017
- 10/12/2017 - 17/12/2017
- 17/12/2017 - 24/12/2017
- 24/12/2017 - 31/12/2017
- 31/12/2017 - 07/01/2018
- 07/01/2018 - 14/01/2018
- 14/01/2018 - 21/01/2018
- 21/01/2018 - 28/01/2018
- 28/01/2018 - 04/02/2018
- 04/02/2018 - 11/02/2018
- 11/02/2018 - 18/02/2018
- 18/02/2018 - 25/02/2018
- 25/02/2018 - 04/03/2018
- 04/03/2018 - 11/03/2018
- 11/03/2018 - 18/03/2018
- 18/03/2018 - 25/03/2018
- 25/03/2018 - 01/04/2018
- 01/04/2018 - 08/04/2018
- 08/04/2018 - 15/04/2018
- 15/04/2018 - 22/04/2018
- 22/04/2018 - 29/04/2018
- 29/04/2018 - 06/05/2018
- 06/05/2018 - 13/05/2018
- 13/05/2018 - 20/05/2018
- 20/05/2018 - 27/05/2018
- 27/05/2018 - 03/06/2018
- 03/06/2018 - 10/06/2018
- 10/06/2018 - 17/06/2018
- 17/06/2018 - 24/06/2018
- 24/06/2018 - 01/07/2018
- 01/07/2018 - 08/07/2018
- 08/07/2018 - 15/07/2018
- 15/07/2018 - 22/07/2018
- 22/07/2018 - 29/07/2018
- 29/07/2018 - 05/08/2018
- 05/08/2018 - 12/08/2018
- 12/08/2018 - 19/08/2018
- 19/08/2018 - 26/08/2018
- 26/08/2018 - 02/09/2018
- 02/09/2018 - 09/09/2018
- 09/09/2018 - 16/09/2018
- 16/09/2018 - 23/09/2018
- 23/09/2018 - 30/09/2018
- 30/09/2018 - 07/10/2018
- 07/10/2018 - 14/10/2018
- 14/10/2018 - 21/10/2018
- 21/10/2018 - 28/10/2018
- 28/10/2018 - 04/11/2018
- 04/11/2018 - 11/11/2018
- 11/11/2018 - 18/11/2018
- 18/11/2018 - 25/11/2018
- 25/11/2018 - 02/12/2018
- 02/12/2018 - 09/12/2018
- 09/12/2018 - 16/12/2018
- 16/12/2018 - 23/12/2018
- 23/12/2018 - 30/12/2018
- 30/12/2018 - 06/01/2019
- 06/01/2019 - 13/01/2019
- 13/01/2019 - 20/01/2019
- 20/01/2019 - 27/01/2019
- 27/01/2019 - 03/02/2019
- 03/02/2019 - 10/02/2019
- 10/02/2019 - 17/02/2019
- 17/02/2019 - 24/02/2019
- 24/02/2019 - 03/03/2019
- 03/03/2019 - 10/03/2019
- 10/03/2019 - 17/03/2019
- 17/03/2019 - 24/03/2019
- 24/03/2019 - 31/03/2019
- 31/03/2019 - 07/04/2019
- 07/04/2019 - 14/04/2019
- 14/04/2019 - 21/04/2019
- 21/04/2019 - 28/04/2019
- 28/04/2019 - 05/05/2019
- 05/05/2019 - 12/05/2019
- 12/05/2019 - 19/05/2019
- 19/05/2019 - 26/05/2019
- 26/05/2019 - 02/06/2019
- 02/06/2019 - 09/06/2019
- 09/06/2019 - 16/06/2019
- 16/06/2019 - 23/06/2019
- 23/06/2019 - 30/06/2019
- 30/06/2019 - 07/07/2019
- 07/07/2019 - 14/07/2019
- 14/07/2019 - 21/07/2019
- 21/07/2019 - 28/07/2019
- 28/07/2019 - 04/08/2019
- 04/08/2019 - 11/08/2019
- 11/08/2019 - 18/08/2019
- 18/08/2019 - 25/08/2019
- 25/08/2019 - 01/09/2019
- 01/09/2019 - 08/09/2019
- 15/09/2019 - 22/09/2019
- 22/09/2019 - 29/09/2019
- 29/09/2019 - 06/10/2019
- 06/10/2019 - 13/10/2019
- 13/10/2019 - 20/10/2019
- 20/10/2019 - 27/10/2019
- 27/10/2019 - 03/11/2019
- 03/11/2019 - 10/11/2019
- 10/11/2019 - 17/11/2019
- 17/11/2019 - 24/11/2019
- 24/11/2019 - 01/12/2019
- 01/12/2019 - 08/12/2019
- 08/12/2019 - 15/12/2019
- 15/12/2019 - 22/12/2019
- 22/12/2019 - 29/12/2019
- 29/12/2019 - 05/01/2020
- 05/01/2020 - 12/01/2020
- 12/01/2020 - 19/01/2020
- 19/01/2020 - 26/01/2020
- 26/01/2020 - 02/02/2020
- 02/02/2020 - 09/02/2020
- 09/02/2020 - 16/02/2020
- 16/02/2020 - 23/02/2020
- 23/02/2020 - 01/03/2020
- 01/03/2020 - 08/03/2020
- 08/03/2020 - 15/03/2020
- 15/03/2020 - 22/03/2020
- 22/03/2020 - 29/03/2020
- 29/03/2020 - 05/04/2020
- 05/04/2020 - 12/04/2020
- 12/04/2020 - 19/04/2020
- 19/04/2020 - 26/04/2020
- 26/04/2020 - 03/05/2020
- 03/05/2020 - 10/05/2020
- 10/05/2020 - 17/05/2020
- 17/05/2020 - 24/05/2020
- 24/05/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020 - 07/06/2020
- 07/06/2020 - 14/06/2020
- 14/06/2020 - 21/06/2020
- 21/06/2020 - 28/06/2020
- 28/06/2020 - 05/07/2020
- 05/07/2020 - 12/07/2020
- 12/07/2020 - 19/07/2020
- 19/07/2020 - 26/07/2020
- 26/07/2020 - 02/08/2020
- 02/08/2020 - 09/08/2020
- 09/08/2020 - 16/08/2020
- 16/08/2020 - 23/08/2020
- 23/08/2020 - 30/08/2020
- 30/08/2020 - 06/09/2020
- 06/09/2020 - 13/09/2020
- 13/09/2020 - 20/09/2020
- 20/09/2020 - 27/09/2020
- 27/09/2020 - 04/10/2020
- 04/10/2020 - 11/10/2020
- 11/10/2020 - 18/10/2020
- 18/10/2020 - 25/10/2020
- 25/10/2020 - 01/11/2020
- 01/11/2020 - 08/11/2020
- 08/11/2020 - 15/11/2020
- 15/11/2020 - 22/11/2020
- 22/11/2020 - 29/11/2020
- 29/11/2020 - 06/12/2020
- 06/12/2020 - 13/12/2020
- 13/12/2020 - 20/12/2020
- 20/12/2020 - 27/12/2020
- 27/12/2020 - 03/01/2021
- 03/01/2021 - 10/01/2021
- 10/01/2021 - 17/01/2021
- 17/01/2021 - 24/01/2021
- 24/01/2021 - 31/01/2021
- 31/01/2021 - 07/02/2021
- 07/02/2021 - 14/02/2021
- 14/02/2021 - 21/02/2021
- 21/02/2021 - 28/02/2021
- 28/02/2021 - 07/03/2021
- 07/03/2021 - 14/03/2021
- 14/03/2021 - 21/03/2021
- 21/03/2021 - 28/03/2021
- 28/03/2021 - 04/04/2021
- 04/04/2021 - 11/04/2021
- 11/04/2021 - 18/04/2021
- 18/04/2021 - 25/04/2021
- 25/04/2021 - 02/05/2021
- 02/05/2021 - 09/05/2021
- 09/05/2021 - 16/05/2021
- 16/05/2021 - 23/05/2021
- 23/05/2021 - 30/05/2021
- 30/05/2021 - 06/06/2021
- 06/06/2021 - 13/06/2021
- 13/06/2021 - 20/06/2021
- 20/06/2021 - 27/06/2021
- 27/06/2021 - 04/07/2021
- 04/07/2021 - 11/07/2021
- 11/07/2021 - 18/07/2021
- 18/07/2021 - 25/07/2021
- 25/07/2021 - 01/08/2021
- 01/08/2021 - 08/08/2021
- 08/08/2021 - 15/08/2021
- 15/08/2021 - 22/08/2021
- 22/08/2021 - 29/08/2021
- 29/08/2021 - 05/09/2021
- 05/09/2021 - 12/09/2021
- 12/09/2021 - 19/09/2021
- 19/09/2021 - 26/09/2021
- 26/09/2021 - 03/10/2021
- 03/10/2021 - 10/10/2021
- 10/10/2021 - 17/10/2021
- 17/10/2021 - 24/10/2021
- 24/10/2021 - 31/10/2021
- 31/10/2021 - 07/11/2021
- 07/11/2021 - 14/11/2021
- 14/11/2021 - 21/11/2021
- 21/11/2021 - 28/11/2021
- 28/11/2021 - 05/12/2021
- 05/12/2021 - 12/12/2021
- 12/12/2021 - 19/12/2021
- 19/12/2021 - 26/12/2021
- 26/12/2021 - 02/01/2022
- 02/01/2022 - 09/01/2022
- 09/01/2022 - 16/01/2022
- 16/01/2022 - 23/01/2022
- 23/01/2022 - 30/01/2022
- 30/01/2022 - 06/02/2022
- 06/02/2022 - 13/02/2022
- 13/02/2022 - 20/02/2022
- 20/02/2022 - 27/02/2022
- 27/02/2022 - 06/03/2022
- 06/03/2022 - 13/03/2022
- 13/03/2022 - 20/03/2022
- 20/03/2022 - 27/03/2022
- 27/03/2022 - 03/04/2022
- 03/04/2022 - 10/04/2022
- 10/04/2022 - 17/04/2022
- 17/04/2022 - 24/04/2022
- 24/04/2022 - 01/05/2022
- 01/05/2022 - 08/05/2022
- 08/05/2022 - 15/05/2022
- 15/05/2022 - 22/05/2022
- 22/05/2022 - 29/05/2022
- 29/05/2022 - 05/06/2022
- 05/06/2022 - 12/06/2022
- 12/06/2022 - 19/06/2022
- 19/06/2022 - 26/06/2022
- 26/06/2022 - 03/07/2022
- 03/07/2022 - 10/07/2022
- 10/07/2022 - 17/07/2022
- 17/07/2022 - 24/07/2022
- 24/07/2022 - 31/07/2022
- 31/07/2022 - 07/08/2022
- 07/08/2022 - 14/08/2022
- 14/08/2022 - 21/08/2022
- 21/08/2022 - 28/08/2022
- 28/08/2022 - 04/09/2022
- 04/09/2022 - 11/09/2022
- 11/09/2022 - 18/09/2022
- 18/09/2022 - 25/09/2022
- 25/09/2022 - 02/10/2022
- 02/10/2022 - 09/10/2022
- 09/10/2022 - 16/10/2022
- 16/10/2022 - 23/10/2022
- 23/10/2022 - 30/10/2022
- 30/10/2022 - 06/11/2022
- 06/11/2022 - 13/11/2022
- 13/11/2022 - 20/11/2022
- 20/11/2022 - 27/11/2022
- 27/11/2022 - 04/12/2022
- 04/12/2022 - 11/12/2022
- 11/12/2022 - 18/12/2022
- 18/12/2022 - 25/12/2022
- 25/12/2022 - 01/01/2023
- 01/01/2023 - 08/01/2023
- 08/01/2023 - 15/01/2023
- 15/01/2023 - 22/01/2023
- 22/01/2023 - 29/01/2023
- 29/01/2023 - 05/02/2023
- 05/02/2023 - 12/02/2023
- 12/02/2023 - 19/02/2023
- 19/02/2023 - 26/02/2023
- 26/02/2023 - 05/03/2023
- 05/03/2023 - 12/03/2023
- 12/03/2023 - 19/03/2023
- 19/03/2023 - 26/03/2023
- 26/03/2023 - 02/04/2023
- 02/04/2023 - 09/04/2023
- 09/04/2023 - 16/04/2023
- 16/04/2023 - 23/04/2023
- 23/04/2023 - 30/04/2023
- 30/04/2023 - 07/05/2023
- 07/05/2023 - 14/05/2023
- 14/05/2023 - 21/05/2023
- 21/05/2023 - 28/05/2023
- 28/05/2023 - 04/06/2023
- 04/06/2023 - 11/06/2023
- 11/06/2023 - 18/06/2023
- 18/06/2023 - 25/06/2023
- 25/06/2023 - 02/07/2023
- 02/07/2023 - 09/07/2023
- 09/07/2023 - 16/07/2023
- 16/07/2023 - 23/07/2023
- 23/07/2023 - 30/07/2023
- 30/07/2023 - 06/08/2023
- 06/08/2023 - 13/08/2023
- 13/08/2023 - 20/08/2023
- 20/08/2023 - 27/08/2023
- 27/08/2023 - 03/09/2023
- 03/09/2023 - 10/09/2023
- 10/09/2023 - 17/09/2023
- 17/09/2023 - 24/09/2023
- 24/09/2023 - 01/10/2023
- 01/10/2023 - 08/10/2023
- 08/10/2023 - 15/10/2023
- 15/10/2023 - 22/10/2023
- 22/10/2023 - 29/10/2023
- 29/10/2023 - 05/11/2023
- 05/11/2023 - 12/11/2023
- 12/11/2023 - 19/11/2023
- 19/11/2023 - 26/11/2023
- 26/11/2023 - 03/12/2023
- 03/12/2023 - 10/12/2023
- 10/12/2023 - 17/12/2023
- 17/12/2023 - 24/12/2023
- 24/12/2023 - 31/12/2023
- 31/12/2023 - 07/01/2024
- 07/01/2024 - 14/01/2024
- 14/01/2024 - 21/01/2024
- 21/01/2024 - 28/01/2024
- 28/01/2024 - 04/02/2024
- 04/02/2024 - 11/02/2024
- 11/02/2024 - 18/02/2024
- 18/02/2024 - 25/02/2024
- 25/02/2024 - 03/03/2024
- 03/03/2024 - 10/03/2024
- 10/03/2024 - 17/03/2024
- 17/03/2024 - 24/03/2024
- 24/03/2024 - 31/03/2024
- 31/03/2024 - 07/04/2024
- 07/04/2024 - 14/04/2024
- 14/04/2024 - 21/04/2024
- 21/04/2024 - 28/04/2024
- 28/04/2024 - 05/05/2024
- 05/05/2024 - 12/05/2024
- 12/05/2024 - 19/05/2024
- 19/05/2024 - 26/05/2024
- 26/05/2024 - 02/06/2024
- 02/06/2024 - 09/06/2024
- 09/06/2024 - 16/06/2024
- 16/06/2024 - 23/06/2024
- 23/06/2024 - 30/06/2024
- 30/06/2024 - 07/07/2024
- 07/07/2024 - 14/07/2024
- 14/07/2024 - 21/07/2024
- 21/07/2024 - 28/07/2024
- 28/07/2024 - 04/08/2024
- 04/08/2024 - 11/08/2024
- 11/08/2024 - 18/08/2024
- 18/08/2024 - 25/08/2024
- 25/08/2024 - 01/09/2024
- 01/09/2024 - 08/09/2024
- 08/09/2024 - 15/09/2024
- 15/09/2024 - 22/09/2024
- 22/09/2024 - 29/09/2024
- 29/09/2024 - 06/10/2024
- 06/10/2024 - 13/10/2024
- 13/10/2024 - 20/10/2024
- 20/10/2024 - 27/10/2024
- 27/10/2024 - 03/11/2024
- 03/11/2024 - 10/11/2024
- 10/11/2024 - 17/11/2024
- 17/11/2024 - 24/11/2024
- 24/11/2024 - 01/12/2024
- 01/12/2024 - 08/12/2024
- 08/12/2024 - 15/12/2024
- 15/12/2024 - 22/12/2024
- 22/12/2024 - 29/12/2024
- 29/12/2024 - 05/01/2025
- 05/01/2025 - 12/01/2025
- 12/01/2025 - 19/01/2025
- 19/01/2025 - 26/01/2025
- 26/01/2025 - 02/02/2025
- 02/02/2025 - 09/02/2025
- 09/02/2025 - 16/02/2025
- 16/02/2025 - 23/02/2025
- 23/02/2025 - 02/03/2025
- 02/03/2025 - 09/03/2025
- 09/03/2025 - 16/03/2025
- 16/03/2025 - 23/03/2025
- 23/03/2025 - 30/03/2025
- 30/03/2025 - 06/04/2025
- 06/04/2025 - 13/04/2025
- 13/04/2025 - 20/04/2025
- 20/04/2025 - 27/04/2025
- 27/04/2025 - 04/05/2025
- 04/05/2025 - 11/05/2025
- 11/05/2025 - 18/05/2025
- 18/05/2025 - 25/05/2025
- 25/05/2025 - 01/06/2025
- 01/06/2025 - 08/06/2025
- 08/06/2025 - 15/06/2025
- 15/06/2025 - 22/06/2025
- 22/06/2025 - 29/06/2025
- 29/06/2025 - 06/07/2025
- 06/07/2025 - 13/07/2025
- 13/07/2025 - 20/07/2025
- 20/07/2025 - 27/07/2025
- 27/07/2025 - 03/08/2025
- 03/08/2025 - 10/08/2025
- 10/08/2025 - 17/08/2025
- 17/08/2025 - 24/08/2025
- 24/08/2025 - 31/08/2025
- 31/08/2025 - 07/09/2025
- 07/09/2025 - 14/09/2025
- 14/09/2025 - 21/09/2025
- 21/09/2025 - 28/09/2025
- 28/09/2025 - 05/10/2025
- 05/10/2025 - 12/10/2025
- 12/10/2025 - 19/10/2025
- 19/10/2025 - 26/10/2025
- 26/10/2025 - 02/11/2025
- 02/11/2025 - 09/11/2025
- 09/11/2025 - 16/11/2025
- 16/11/2025 - 23/11/2025
- 23/11/2025 - 30/11/2025
- 30/11/2025 - 07/12/2025
- 07/12/2025 - 14/12/2025
- 14/12/2025 - 21/12/2025
- 21/12/2025 - 28/12/2025
- 28/12/2025 - 04/01/2026
- 04/01/2026 - 11/01/2026
- 11/01/2026 - 18/01/2026
- 18/01/2026 - 25/01/2026
- 25/01/2026 - 01/02/2026
- 01/02/2026 - 08/02/2026
- 08/02/2026 - 15/02/2026
- 15/02/2026 - 22/02/2026
- 22/02/2026 - 01/03/2026
- 01/03/2026 - 08/03/2026
- 08/03/2026 - 15/03/2026
Fragmentos de textos e imagens catadas nesta tela, capturadas desta web, varridas de jornais, revistas, livros, sons, filtradas pelos olhos e ouvidos e escorrendo pelos dedos para serem derramadas sobre as teclas... e viverem eterna e instanta neamente num logradouro digital. Desagua douro de pensa mentos.
sábado, outubro 27, 2018
Esse Brasil não!

"Assim, abençoado pelas Igrejas dos novos crentes e tementes, propulsionado pelas redes sociais que são a democracia dos novos tempos, pelas mentiras compradas em pacotes no WhatsApp que são o novo jornalismo, empurrado pelos empresários que se esqueceram de prender e pelos políticos que esperam amnistia, pelos juízes-justiceiros que se darão por saciados, pelos militares que se darão por bem lembrados, pelos letrados que se imaginam revolucionários atrás de um capitão que não tem pudor de mostrar o que não sabe e não pensa, pelos que têm fome e sede de justiça e imaginam que irão ser saciados, pelos que têm fome e que julgam que se irão ocupar deles, pelos que têm medo e a quem prometem um revólver contra os bandidos, pela grandiosidade de um Fernando Henrique Cardoso que prefere morrer enferrujado na porta que se vai fechar, 210 milhões de brasileiros vão amanhã à noite mergulhar numa escuridão de onde ninguém sabe quando será o regresso e a que preço."
leia o artigo de MIGUEL SOUSA TAVARES/: Esse Brasil não! | A Estátua de Sal:
Por que a política de segurança pública do Bolsonaro seria uma tragédia?

"A retórica fácil e falaciosa de Jair Bolsonaro de combate duro ao criminoso, em um ambiente social onde predomina o medo, foi um grande cabo eleitoral do capitão na eleição presidencial. Tal retórica é baseada em um tripé: 1) no endurecimento das leis penais; 2) no direito das pessoas se armarem; e 3) na retórica da guerra e da licença para o policial matar. Tal pseudopolítica redundará numa tragédia nunca antes vista nesse país."
leia o artigo de Daniel Cerqueira
Por que a política de segurança pública do Bolsonaro seria uma tragédia? | Opinião | EL PAÍS Brasil
Medo por medo, dá Bolsonaro

"O desejo de mudança que não conseguiu ser liberado na eleição presidencial de 2014 – menos pelos méritos do PT do que pela incompetência de Aécio Neves e dos tucanos – acumulou ainda mais pressão ao longo dos quatro últimos anos de crise sem fim e economia andando para trás. Está entrando em erupção agora. Interromper seu fluxo é tão fácil quanto tapar um vulcão
.
O mais provável é que os problemas de Bolsonaro apareçam só depois do segundo turno. A decadência da popularidade do PSDB e do PT veio na sequência de suas vitórias baseadas na manipulação do terror eleitoral. Se as eleições de 1998 e 2014 ensinam alguma coisa é que o medo elege mas não governa.
Só com ditadura."
LEIA O ARTIGO DE JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO
Medo por medo, dá Bolsonaro
Todo cidadão brasileiro que votar 17 estará mergulhando o dedo no sangue das futuras vítimas da Ditadura Bolsonazista | A CASA DE VIDRO
"Não terá sido por falta de aviso: milhares de vozes estão clamando para que cada brasileiro acorde para sua responsabilidade diante do futuro de um país que nada tem a ganhar com a re-instauração da barbárie militarista.
Muitas das vozes que hoje se levantam, num polifônico coro, para denunciar os perigos e os horrores do Bolsonarismo, estão bem longe de serem prosélitos do petismo ou filiados ao Partido dos Trabalhadores.Mesmo aqueles que souberam criticar com profundidade o “Lulismo no poder”, apontando alguns dos descaminhos do PT nestes seus 38 anos de caminhada, caso de figuras como Eliane Brum, hoje sabem que apertar 13 nas urnas é a coisa mais certa a se fazer para opor um dique à maré montante do fascismo."
leia o texto de Eduardo Cali de Moraes
Todo cidadão brasileiro que votar 17 estará mergulhando o dedo no sangue das futuras vítimas da Ditadura Bolsonazista | A CASA DE VIDRO:
Corrupção e violencia
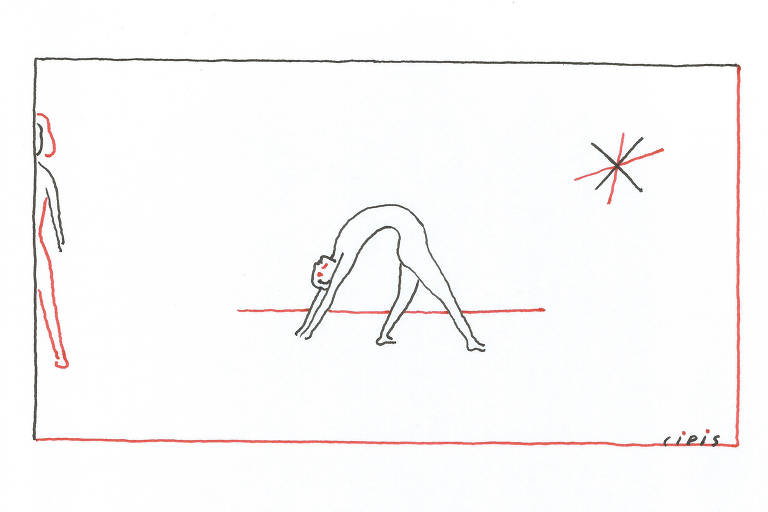
"Bolsonaro gosta de se vender como um homem incorruptível e incansável no combate à corrupção. Mas Bolsonaro é aquele mesmo político que passou 20 dos 27 anos de sua vida pública em um partido notoriamente corrupto (PP), comandado por ninguém menos do que Paulo Maluf.
Em momento algum, alguém ouviu declaração indignada a respeito da corrupção de seu partido e suas figuras de proa. Nada disto o incomodou durante 20 anos. Ao contrário, quando questionado sobre a propina que seu partido recebeu da JBS e direcionada a ele, apenas afirmou: “Que partido não recebe propina?”."
mais na coluna de Vladimir Safatle
sexta-feira, outubro 26, 2018
Bolsonaro pede inelegibilidade de Haddad por turnê de Roger Waters
"Para os advogados, embora os shows "num primeiro momento pudessem parecer mera propaganda negativa, ou até crítica ácida" contra Bolsonaro "tomaram outro viés" quando o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou "que Roger Waters recebeu R$ 90 milhões para fazer propaganda eleitoral disfarçada de show". Sá Leitão foi dos ministros do atual governo que já voto em Bolsonaro.
Por fim, acusam a campanha do PT de fazer caixa 2, porque a Justiça Eleitoral proíbe a doação de pessoas jurídicas e "certamente" o "showmício" de Roger Waters não vai ser declarado prestação de contas
Eles também afirmam que, no "atual estado de ânimo da sociedade brasileira, movida por forte polarização, é um risco imenso à segurança de 45 mil pessoas incitar controvérsia política da forma como realizada". Segundo a argumentação do grupo jurídico de Bolsonaro, as "pessoas presentes ao espetáculo se sentiram acuadas e o evento se transformou em disputa de espaços, o que gerou, inclusive, risco à integridade física dos presentes"."
leia reportagem por Por Isadora Peron e Luísa Martins
Bolsonaro pede inelegibilidade de Haddad por turnê de Roger Waters | Valor Econômico:
O comando que está caçando esquerdistas nas universidades já perseguiu 181 professores

"Segundo os professores da universidade, os policiais revistaram o espaço da Adufcg “minuciosamente” a portas fechadas e apreenderam, além do manifesto, também cinco HDs externos usados pelos profissionais.
Em texto e vídeo publicados em seu perfil no Facebook, o denunciante do MBL se concentrou no fato da ação, classificada por ele como “petista”, ter sido realizada em uma instituição pública e por “professores e funcionários cujos salários são pagos por nosso dinheiro”. O MBL da Paraíba noticiou que a polícia havia desmontado um “comitê do PT” – embora o material apreendido não fizesse qualquer menção a Haddad.
Também no Rio de Janeiro, uma viatura com dois PMs chegou à Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ordenou a retirada das faixas em homenagem a vereadora Marielle Franco, assassinada em março, e a Luiz Paulo da Cruz Nunes, morto há 50 anos pela durante a ditadura e símbolo da luta estudantil no Brasil. Segundo os estudantes, nesse caso também não havia mandado e o comandante do batalhão ao qual os policiais pertencem sequer sabia da ação dos PMs. "
leia mais
O comando que está caçando esquerdistas nas universidades já perseguiu 181 professores:
"Bolso nada" - Francisco, El Hombre
Se a um fascista é concedido cargo alto e voz viril
Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu
Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio
Mesquinhez e intolerância, bolso nada que pariu
Bolso dele sempre cheio bolso nada que pariu
Vinicius Torres Freire: Jair Bolsonaro em obras, mito e realidade

"O Congresso está em desordem. MDB, PSDB e DEM, que coordenavam os trabalhos, foram derrotados e encolhidos. Os bolsonaristas ainda não têm tecnologia de coordenação política e terão de lidar com a fragmentação ainda maior da Câmara. Apenas adesismo não basta."
leia artigo de Vinicius Torres Freire
Democracia Política e novo Reformismo: Vinicius Torres Freire: Jair Bolsonaro em obras, mito e realidade:
: Aos indecisos, aos que se anulam, aos que preferem não

"Estamos ferrados. Não apenas porque um ministro do TSE diz que é simulado aquilo que é real, mas porque este tem sido o comportamento de uma grande parcela das instituições e também da imprensa. Simula-se no Brasil que a distopia não é real. E se faz isso simulando que esta é uma eleição “normal”, uma eleição entre dois projetos distintos, mas igualmente legítimos."
"Mas, assim como o ministro pode dizer o que é real e o que é simulado, Bolsonaro também pode dizer que eu e você somos “comunistas”. Quem tem o poder e terá o aparato de repressão na mão poderá também dizer o que somos eu e você. A verdade, num governo autoritário, passa a ser a daquele que tem a arma na mão e o pau de arara no porão para impô-la. E, então, como Bolsonaro já anunciou no último domingo: “Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”. E acrescentou: “Será uma limpeza nunca vista no Brasil”.
leia oa rtigo de Eliane Brum
Eleições Brasil 2018: Aos indecisos, aos que se anulam, aos que preferem não | Opinião | EL PAÍS Brasil
Elvis Costello & The Imposters - He's Given Me Things (Audio)
He’s given me things you never would have
And if you did you’d want them back
Forgiven me things I didn’t know that
I had done but just faded to black
He’s given me time and consolation
Some verses to read and lines to say
I will stay here for a while now
He calls me child now but it works that way
quarta-feira, outubro 24, 2018
Ditadura anunciada |
"Não duvidemos: os adversários serão perseguidos, forçados ao exílio ou a prisões arbitrárias.
Na mesma fala, ele falou de um Brasil “sem Folha de São Paulo”, em outro aviso macabro, este à imprensa livre que tanto contemporizou com ele. E proclamou que o ex-presidente Lula vai mofar na cadeia, explicitando a intenção de controlar o Judiciário, pois não cabe ao Executivo decidir sobre a execução da pena de nenhum preso.
Avisou ainda que o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias, será preso e fará companhia a Lula, juntamente com o atual candidato do partido, Fernando Haddad.
Bolsonaro aponta para o terror de Estado, com o governo decidindo quem prender, fora do devido processo legal, fora do Estado de Direito. Quem for capaz, que arranje outro nome para esta ditadura anunciada."
mais na coluna de Tereza Cruvinel
Ditadura anunciada | Contexto Livre
Três assassinatos em três dias: campo revive escalada de violência

"Na sua ida ao Pará, em julho último, o capitão reformado defendeu publicamente policiais militares por matarem 19 camponeses sem-terra no massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. Se ele ganhar – tendência que vem sendo apontada pelas pesquisas –, muitos temem explosão da violência na Amazônia, uma região já turbulenta. Há muito Bolsonaro defende medidas para criminalizar os movimentos que defendem a reforma agrária. Em novembro de 2017, ele disse que “não é possível combater a violência com pombas e bandeiras brancas”, e pediu ao Congresso para legalizar o uso de armas para proprietários de terras."
leia reportagem de Sue Branford e Mauricio Torres
Três assassinatos em três dias: campo revive escalada de violência: Um líder camponês e dois indígenas, que já haviam sofrido ameaças, foram mortos no interior do Pará, Maranhão e Mato Grosso
Concertação democrática já!

"Neste momento, a defesa das instituições democráticas exige a criação de uma frente de pessoas e organizações convencidas de que suas diferenças políticas só poderão ser exibidas e exercidas se o espaço das diferenças for preservado, se a democracia for preservada. A única maneira de superar o pânico generalizado é canalizar a ansiedade para a ação. E para a reconstrução das normas básicas de convivência democrática que foram rompidas nesta eleição, que já não existem mais.
Porque a erosão democrática visível dos últimos anos não desaparecerá após apuradas as urnas e proclamados os resultados. Combatê-la exige a criação formal de uma frente da sociedade civil que não se confunda com instituições ou partidos determinados. É preciso criar a Concertação Democrática. Já.
Cada força política que faça seus cálculos eleitorais, mas a Concertação não poderá ter outros objetivos a não ser: combater qualquer ameaça à democracia, reconstruir as instituições e repactuar a democracia desde baixo. Nela devem caber todas as pessoas que temem pela sobrevivência da democracia. Todas"
leia o artigo de Marcos Nobre
Concertação democrática já!: s
terça-feira, outubro 23, 2018
O guarda da esquina e sua hora

"Recapitulemos: primeiro Bolsonaro adula o delinquente que é seu par, depois homenageia o torturador que tem como maior ídolo. Entre uma coisa e outra, expressa sentimento de vingança (perderam em 64, estão perdendo agora) e transpira paranoia (a ameaça comunista no Brasil atual é um delírio, assim como a pedagogia da permissividade nas escolas). Conclui, enfim, exaltando as Forças Armadas e glorificando a Deus, lançando mão de um bordão que não largaria mais ao longo da campanha. Em retrospecto, vê-se que sua fala estava pronta e foi calculada. Só agora, ao ouvi-la novamente, me dei conta de todos esses elementos reunidos em poucos segundos. Espírito de corpo, perversão, paranoia, nacionalismo autoritário e fervor cristão alimentam a retórica fascista de Bolsonaro. O que me chocou na ocasião foi a homenagem à figura de Brilhante Ustra. Hoje, além dela, o que embrulha o estômago é o complemento sádico da citação – o pavor de Dilma Rousseff. Bolsonaro não se limita a homenagear o algoz de Dilma; ele de certa forma revive o próprio ato da tortura enquanto fala."
leia artigo de Fernando de Barros e Silva
O guarda da esquina e sua hora: Reflexões em torno de um slogan de Jair Bolsonaro
Rompendo a violencia enrustida

"Não me surpreende que a menina dos olhos da iconografia Bolsonarista seja o revólver. A arma de fogo me soa como a expressão máxima do reducionismo e portanto, de um pensamento miserável que grassa no Brasil contemporâneo sem fronteiras ou limites de ação. A arma resolve tudo, é imediatista e sacia a ansiedade dos espumantes por 'justiça'. Pra muitos significa a limpeza, uma espécie de corte de pessoal, a intimidação necessária e a extensão falocêntrica de um corpo despótico. Óbvio dizer aqui o quanto a arma de fogo amplifica o nível de covardia de um ser humano. A ideia de que uma pessoa de bem (existe algo mais CRETINO do que esse termo?) não se modifica ao adquirir uma arma de fogo é absolutamente ingênua. Pra mim, esse tesão que as pessoas sentem por arma é a velha sanha pelo pequeno poder, uma das nossas maiores tradições. Mente pequena, pequeno poder."
mais no texto de BRUNO MARON
Todos sabem o que está por vir

"Uma das características que mais aproxima o eleitor de Bolsonaro do fascismo é a irracionalidade. Sua base de apoio é movida a reações viscerais de ódio, medo, gana, paixão e euforia, mas permanece refratária a qualquer argumento ponderado. Economistas arriscam o voto num candidato que não apresenta nenhum programa econômico coeso e, ao contrário, é visto com desconfiança pelo mercado financeiro internacional. Eleitores revoltados com a corrupção abraçam como paladino da moralização um político de carreira, com longa passagem pelos partidos mais sujos do Congresso e uma penca de acusações de enriquecimento ilícito, ocultação de bens, abuso de caixa dois, nepotismo e contratação de funcionários fantasmas. Gente que se diz preocupada com a segurança, antes de tudo, corre para o abraço da morte de políticas sabidamente ineficazes para coibir a violência: mais Forças Armadas nas ruas, liberação de posse de armas para a população civil, carta branca para justiçamentos e esquadrões da morte. O candidato passa a campanha inteira fazendo gesto de arma com a mão, dando tiros imaginários no ar e incita a turba com frases como “vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre” , mas seus apoiadores se recusam a enxergar nisso qualquer ameaça à paz e à ordem legal. Eles têm olhos mas não vêem, têm ouvidos mas não ouvem."
MAIS NO ARTIGO DE RAFAEL CARDOSO
Revista Pessoa - Todos sabem o que está por vir: É preciso deixar registrado que todos sabem, para que não se repita daqui a alguns anos a ladainha de que “não sabíamos” e “eu não me dei conta” com que os alemães que apoiaram o nazismo protestaram sua inocência, entre indignação e lágrimas amargas, após 1945.
Bolsonarista chega ao poder na Ilha de Paquetá
DA COLUNA DO NOBLAT
Estimada em 4.500 almas, a população fixa da pacata Ilha de Paquetá, a 15 quilômetros do centro do Rio, começa a respirar novos ares. Nem bem ali o deputado Jair Bolsonaro (PSL) havia colhido a maior votação de um candidato a presidente da República, o prefeito Marcelo Crivella apressou-se a agradá-lo com a nomeação de um novo administrador para ilha.
Sai Edson Santos, indicado há dois anos pelo próprio Crivella. Entra Edson Moreira Brígido, militar da reserva da Força Aérea Brasileira, apoiado pelo movimento “Endireita Paquetá” que reúne os mais aplicados ativistas políticos da ilha que suaram as camisas para conferir a Bolsonaro todos os votos possíveis. Moreira Brígido não mora em Paquetá, mas isso é o de menos.
Ele é mais antigo no PSL do que o próprio Bolsonaro, que só este ano entrou no partido, o sétimo de sua carreira política. Moreira Brígido – ou “Barão de Pontinha” como se assina também – foi candidato a deputado estadual pelo PSL em 2002 e perdeu. Em 2010, foi candidato a deputado federal e só conseguiu 510 votos, 0,01% do total de votos em disputa.
Este ano não concorreu. Mas valeu-se de sua página no Facebook para fazer campanha por Bolsonaro. Em vídeo postado no Youtube há dois anos, ele critica a candidatura de Marcelo Freixo (PSOL) à prefeitura do Rio, manda um alô para o ator Alexandre Frota e antecipa seu voto em Bolsonaro para presidente. Não sem antes anunciar que estava no melhor de sua forma física.
No Facebook, além de bater continência para o capitão e lembrar que faltam poucos dias para que o país se livre “da maior facção criminosa” de sua história, Moreira Brígido posta uma foto sua ao lado do general da reserva Augusto Heleno, um dos mentores de Bolsonaro, e outras que sugerem o seu empenho em curtir o melhor que a vida possa lhe oferecer. Mulheres, por exemplo.
Abaixo de uma das fotos, onde posa de calção e com os braços levantados para destacar o pouco volume da barriga, Moreira Brígido anotou a título de comentário: “Vão malhar gente. Pelo menos arranjem alguma coisa para fazer. Transem com suas mulheres. Isso também exercita o corpo e a mente. Sabiam?”. Moreira Brígido ficou mais desinibido desde que se divorciou.
O novo administrador da Ilha de Paquetá já começou a limpeza política que se esperava dele. Funcionários com viés de esquerda estão sendo trocados por bolsonaristas de raiz. Os dispensados e os que negaram o voto a Bolsonaro se articulam para fazer oposição a Moreira Brígido. A paz na ilha está por um fio.
Paquito - O Monstro (paquito-chico cesar)
o monstro chegou no mundo
pleno de ódio e amor
não adianta chamar a polícia
não tem sentido alertar a familia
ninguém segura a criatura e seu terror
o monstro naturalmente exibe os dentes
à luz do dia caninos proeminentes
na boca quente e macia
bandido bom é bandido morto
jesus moído até o osso
segunda-feira, outubro 22, 2018
E se Bolsonaro ganhar?

"Caso Bolsonaro vire presidente, sua gestão deverá reforçar a lógica racista da violência. Num país que demorou tanto para abolir a escravidão e que mata seguidamente defensores dos direitos humanos, será cada vez mais difícil – e perigoso – questionar a violência estrutural se elegermos um candidato que faz dela uma plataforma de governo. O desaparecimento e a morte ficarão ainda mais presentes no cotidiano daqueles a quem não basta estar alerta para se manter vivo"
leia o artigo de Suellen Guariento - E se Bolsonaro ganhar?:
Dingo Bells - Ser Incapaz de Ouvir
Nem mastiga e diz que está alimentado
Fala e mata a fome de ser escutado
Seu problema é não sentir-se satisfeito
Mesmo devorando o mundo desse jeito
Gilson Dipp: o TSE terá que tomar medidas mais drásticas — Rede Brasil Atual
"Deve ser feita com cautela, porque não estamos apenas em um processo de punição, mas estamos em um processo que mexe com uma gana de eleitorado completamente desarvorado e agressivo como nunca vi. Mas é o momento de a Justiça Eleitoral dizer a que veio nas eleições de 2018. E vai ter que tomar medidas muito mais drásticas, muito mais sofisticadas do que aquelas que vinha tomando em pleitos anteriores. É o que já disse antes, a Justiça Eleitoral vai ter que abandonar a carroça e embarcar em uma nave espacial, em prol do esclarecimento dos fatos."
leia mais>>
Gilson Dipp: o TSE terá que tomar medidas mais drásticas — Rede Brasil Atual:
1968 não temrinou bem para minha tia Zenir
MAURO VENTURA
1968
não terminou bem para minha tia Zenir. Aos 38 anos, ela ficara viúva em
abril, quando meu tio Jair morreu de câncer no pulmão, após meses
hospitalizado. Mais tarde, em dezembro, logo após o AI-5, foi a vez de
seu irmão Zuenir ser preso. Três agentes haviam chegado lá em casa pela
manhã. Eram simpáticos, conversaram comigo, mas estranhei quando meu pai
foi para o quarto se arrumar e voltou com uma sacola. Eu tinha 5 anos e
perguntei: “Ué, pai, você vai viajar com eles?” Ele me tranquilizou:
“Vou, mas papai volta logo.” Foi levado para "prestar esclarecimentos" e
só retornaria para casa três meses mais tarde.
Um ou dois dias depois que ele foi conduzido pelos agentes para o Sops (Seção de Ordem Política e Social), uma delegacia da PF instalada na Praça XV, minha mãe e meu tio foram levar roupas, escova e pasta de dente. Sem qualquer explicação, também acabaram detidos.
Assim que viu a mulher e o irmão serem presos, meu pai explicou para o delegado Antônio da Costa Sena que sua filha – minha irmã Elisa, à época com 4 anos – estava com coqueluche, tendo acessos de tosse. “Isso é problema seu”, foi a resposta seca.
- Fiquei apavorada, estava sem notícias dos três – lembra minha tia hoje, quando se completam 50 anos daquele período.
Ela, que já cuidava sozinha das duas filhas, teve que passar a tomar conta também de mim e de minha irmã. Um dia, uma amiga nossa da Urca, Claudia, disse a ela, a respeito de outro vizinho, um militar do Exército: “Esse coronel está paquerando você.” Minha tia desconversou: “Para com isso, Claudia!” Mas ela insistiu: “É sim. Quando você passa, ele fica olhando.”
Minha tia não deu bola. Até que, desesperada pela falta de informações, bateu à porta da casa dele e explicou a situação: “Meus irmãos e minha cunhada foram presos, não sei onde estão. Minha sobrinha está doente, estou sem notícias.” Ele prometeu apurar: “Fique tranquila, vou ver o que posso fazer.” À noite, o militar foi lá em casa e contou que os três estavam no Sops.
Minha mãe passava o dia sentada num banco na delegacia e, à noite, dormia numa cama que era armada na sala do delegado. Já meu tio Zé Antônio ficou na carceragem, no porão, dormindo no chão. Após poucos dias, os dois seguiram para o Dops, enquanto meu pai foi transferido para o Regimento Marechal Caetano de Farias.
Minha mãe ficou no presídio São Judas Tadeu, localizado no andar térreo do Dops, num pavilhão com outras 30 mulheres. Assim que chegou, uma das presas ofereceu a ela a opção de ficar na cama de cima ou na de baixo do beliche. “Qual a diferença?”, ela perguntou. “Na de cima tem baratas, na debaixo tem ratos.”
Apesar do pavor de baratas, ela optou pela de cima. Minha mãe dividia espaço com presas comuns. A maioria traficantes, que alegavam: “Eu tava tomando café no botequim, alguém chegou, botou um pacote ali, a polícia veio e achou que era meu.” Mas uma detenta contava, com naturalidade: “Eu pedi dinheiro emprestado pra patroa. Minha filha pequena tava doente e eu precisava comprar remédio. Ela negou. Peguei o fio do aspirador de pó e enforquei.” O crime ficou célebre à época. Entre as presas, havia mães recentes, e tinha bebê que ficava em caixa de papelão
Minha mãe tinha como tarefa limpar a privada. “Tem lacraias, cuidado”, avisaram. Por sorte, ela tinha uma rede de solidariedade que a ajudou. Amigas como Ceres e Maria Clara levavam biscoitos, doces e outros alimentos. Não podiam vê-la, já que estava incomunicável, mas ela recebia os produtos e distribuía entre as colegas de cárcere. Assim, ficou liberada de lavar a privada.
- Eu também comecei a ensinar as presas a fazer tapete - conta hoje.
Quem dirigia o São Judas Tadeu era um casal espírita. Às 5h da manhã, eles batiam palmas e gritavam: “Acordem senhoras!”. Na época, a moda era minissaia e, quando as amigas de minha mãe iam até lá, os dois as repreendiam: “Ponham essa toalhinha, por favor.”
Ceres morava no Leblon, no mesmo prédio do general Costa Cavalcanti. Um dia, foi ao apartamento dele e suplicou: “General, eu tenho uma amiga que está presa. Ela não fez nada. Tem dois filhos pequenos, e a menina está doente.” O militar respondeu: “A senhora garante que ela não fez nada?” Ceres disse: “Garanto. Ela é minha amiga. Não tem inquérito nenhum contra ela.”
Ele confirmou a informação e assim, após cerca de um mês, ela foi liberada e posta em prisão domiciliar:
- Depois de um certo tempo, percebi que não havia ninguém tomando conta e fui à padaria. Não aconteceu nada. E comecei a sair.
Até porque não havia nenhuma acusação contra ela.
Meu tio tinha sido solto dias antes. No Dops, havia um pouco de tudo: presos políticos, bicheiros, travestis.
- O barulho de tranca da cela me marcou muito - relembra.
Após umas três semanas, ele foi chamado e levou um sermão de um militar: “Você é comunista, estamos de olho.” Meu tio ainda hoje se espanta:
- Eu era diretor de fotografia, trabalhava com cinema, não tinha qualquer ligação com política.
E assim pôde ir para casa. Mas ao viajar precisava pedir autorização às autoridades. Pouco depois, seguiu para a Itália a trabalho e ficou cerca de um ano.
Eram tempos difíceis. Eu perguntava muito: "Tia, meus pais não vão voltar?" Não pudemos ver minha mãe na cadeia, mas depois tivemos autorização para visitar meu pai uma vez por semana.
- Eu saía da prisão arrasada – diz minha tia atualmente.
Uma prisão a que meu pai foi submetido, sem culpa e sem provas, por simples e infundadas suspeitas. O ambiente naquele período era de tanto terror e paranoia que, anos depois, ele consultou sua ficha no Dops e viu o tamanho do equívoco. Achavam que era a pessoa encarregada pelo Partido Comunista de controlar a imprensa, decidindo quem seria admitido ou demitido dos jornais. Logo ele, que não tinha militância política, nem era filiado a qualquer partido e muito menos combateu o governo pelas armas. Era professor universitário e jornalista, e participou de assembleias e passeatas contra o regime militar, como tanta gente que queria a volta da democracia. Mas, em tempos de ditadura – qualquer ditadura, de direita ou de esquerda -, pensar diferente dá cadeia.
Meu pai só foi solto em março de 1969, graças a Nelson Rodrigues. O dramaturgo visitava o poeta e psicanalista Helio Pellegrino, colega de cela de meu pai, todo dia, até no carnaval. Os dois eram grandes amigos, apesar das divergências ideológicas. Nelson apoiava o regime militar, enquanto Helio era de esquerda – foi, por exemplo, orador na Passeata dos Cem Mil. Só que Nelson fez parecer maior o papel de Helio na vida pública do país. O escritor, com o exagero caricatural que lhe era comum, costumava ironizar em suas crônicas o engajamento político do amigo. Dizia que “o verbo de Helio movia montanhas”. O resultado foi a prisão do mineiro.
O dramaturgo sentiu-se tão culpado que fez de tudo para libertá-lo. Chegou a interceder junto ao general Henrique de Assunção Cardoso, chefe do Estado Maior do I Exército, alegando que Helio era uma “cotovia, um homem com alma de passarinho, meu amigo de infância!”. Insistia: “Como um homem desses pode ser um perigoso condutor das massas?"
Por fim, o general decidiu soltá-lo. Mas o psicanalista bateu o pé e disse que só saía com meu pai. Nelson respondeu: “Mas Helio, o Zuenir, essa doce figura, será que ele não vai colocar uma bomba aí no quartel?” Helio negou, o dramaturgo se convenceu de que meu pai não era um perigo e assinou um documento se responsabilizando pelos dois.
E assim o psicanalista e o jornalista que anos depois escreveria o clássico “1968 – O ano que não terminou” acabaram enfim libertados.
Um ou dois dias depois que ele foi conduzido pelos agentes para o Sops (Seção de Ordem Política e Social), uma delegacia da PF instalada na Praça XV, minha mãe e meu tio foram levar roupas, escova e pasta de dente. Sem qualquer explicação, também acabaram detidos.
Assim que viu a mulher e o irmão serem presos, meu pai explicou para o delegado Antônio da Costa Sena que sua filha – minha irmã Elisa, à época com 4 anos – estava com coqueluche, tendo acessos de tosse. “Isso é problema seu”, foi a resposta seca.
- Fiquei apavorada, estava sem notícias dos três – lembra minha tia hoje, quando se completam 50 anos daquele período.
Ela, que já cuidava sozinha das duas filhas, teve que passar a tomar conta também de mim e de minha irmã. Um dia, uma amiga nossa da Urca, Claudia, disse a ela, a respeito de outro vizinho, um militar do Exército: “Esse coronel está paquerando você.” Minha tia desconversou: “Para com isso, Claudia!” Mas ela insistiu: “É sim. Quando você passa, ele fica olhando.”
Minha tia não deu bola. Até que, desesperada pela falta de informações, bateu à porta da casa dele e explicou a situação: “Meus irmãos e minha cunhada foram presos, não sei onde estão. Minha sobrinha está doente, estou sem notícias.” Ele prometeu apurar: “Fique tranquila, vou ver o que posso fazer.” À noite, o militar foi lá em casa e contou que os três estavam no Sops.
Minha mãe passava o dia sentada num banco na delegacia e, à noite, dormia numa cama que era armada na sala do delegado. Já meu tio Zé Antônio ficou na carceragem, no porão, dormindo no chão. Após poucos dias, os dois seguiram para o Dops, enquanto meu pai foi transferido para o Regimento Marechal Caetano de Farias.
Minha mãe ficou no presídio São Judas Tadeu, localizado no andar térreo do Dops, num pavilhão com outras 30 mulheres. Assim que chegou, uma das presas ofereceu a ela a opção de ficar na cama de cima ou na de baixo do beliche. “Qual a diferença?”, ela perguntou. “Na de cima tem baratas, na debaixo tem ratos.”
Apesar do pavor de baratas, ela optou pela de cima. Minha mãe dividia espaço com presas comuns. A maioria traficantes, que alegavam: “Eu tava tomando café no botequim, alguém chegou, botou um pacote ali, a polícia veio e achou que era meu.” Mas uma detenta contava, com naturalidade: “Eu pedi dinheiro emprestado pra patroa. Minha filha pequena tava doente e eu precisava comprar remédio. Ela negou. Peguei o fio do aspirador de pó e enforquei.” O crime ficou célebre à época. Entre as presas, havia mães recentes, e tinha bebê que ficava em caixa de papelão
Minha mãe tinha como tarefa limpar a privada. “Tem lacraias, cuidado”, avisaram. Por sorte, ela tinha uma rede de solidariedade que a ajudou. Amigas como Ceres e Maria Clara levavam biscoitos, doces e outros alimentos. Não podiam vê-la, já que estava incomunicável, mas ela recebia os produtos e distribuía entre as colegas de cárcere. Assim, ficou liberada de lavar a privada.
- Eu também comecei a ensinar as presas a fazer tapete - conta hoje.
Quem dirigia o São Judas Tadeu era um casal espírita. Às 5h da manhã, eles batiam palmas e gritavam: “Acordem senhoras!”. Na época, a moda era minissaia e, quando as amigas de minha mãe iam até lá, os dois as repreendiam: “Ponham essa toalhinha, por favor.”
Ceres morava no Leblon, no mesmo prédio do general Costa Cavalcanti. Um dia, foi ao apartamento dele e suplicou: “General, eu tenho uma amiga que está presa. Ela não fez nada. Tem dois filhos pequenos, e a menina está doente.” O militar respondeu: “A senhora garante que ela não fez nada?” Ceres disse: “Garanto. Ela é minha amiga. Não tem inquérito nenhum contra ela.”
Ele confirmou a informação e assim, após cerca de um mês, ela foi liberada e posta em prisão domiciliar:
- Depois de um certo tempo, percebi que não havia ninguém tomando conta e fui à padaria. Não aconteceu nada. E comecei a sair.
Até porque não havia nenhuma acusação contra ela.
Meu tio tinha sido solto dias antes. No Dops, havia um pouco de tudo: presos políticos, bicheiros, travestis.
- O barulho de tranca da cela me marcou muito - relembra.
Após umas três semanas, ele foi chamado e levou um sermão de um militar: “Você é comunista, estamos de olho.” Meu tio ainda hoje se espanta:
- Eu era diretor de fotografia, trabalhava com cinema, não tinha qualquer ligação com política.
E assim pôde ir para casa. Mas ao viajar precisava pedir autorização às autoridades. Pouco depois, seguiu para a Itália a trabalho e ficou cerca de um ano.
Eram tempos difíceis. Eu perguntava muito: "Tia, meus pais não vão voltar?" Não pudemos ver minha mãe na cadeia, mas depois tivemos autorização para visitar meu pai uma vez por semana.
- Eu saía da prisão arrasada – diz minha tia atualmente.
Uma prisão a que meu pai foi submetido, sem culpa e sem provas, por simples e infundadas suspeitas. O ambiente naquele período era de tanto terror e paranoia que, anos depois, ele consultou sua ficha no Dops e viu o tamanho do equívoco. Achavam que era a pessoa encarregada pelo Partido Comunista de controlar a imprensa, decidindo quem seria admitido ou demitido dos jornais. Logo ele, que não tinha militância política, nem era filiado a qualquer partido e muito menos combateu o governo pelas armas. Era professor universitário e jornalista, e participou de assembleias e passeatas contra o regime militar, como tanta gente que queria a volta da democracia. Mas, em tempos de ditadura – qualquer ditadura, de direita ou de esquerda -, pensar diferente dá cadeia.
Meu pai só foi solto em março de 1969, graças a Nelson Rodrigues. O dramaturgo visitava o poeta e psicanalista Helio Pellegrino, colega de cela de meu pai, todo dia, até no carnaval. Os dois eram grandes amigos, apesar das divergências ideológicas. Nelson apoiava o regime militar, enquanto Helio era de esquerda – foi, por exemplo, orador na Passeata dos Cem Mil. Só que Nelson fez parecer maior o papel de Helio na vida pública do país. O escritor, com o exagero caricatural que lhe era comum, costumava ironizar em suas crônicas o engajamento político do amigo. Dizia que “o verbo de Helio movia montanhas”. O resultado foi a prisão do mineiro.
O dramaturgo sentiu-se tão culpado que fez de tudo para libertá-lo. Chegou a interceder junto ao general Henrique de Assunção Cardoso, chefe do Estado Maior do I Exército, alegando que Helio era uma “cotovia, um homem com alma de passarinho, meu amigo de infância!”. Insistia: “Como um homem desses pode ser um perigoso condutor das massas?"
Por fim, o general decidiu soltá-lo. Mas o psicanalista bateu o pé e disse que só saía com meu pai. Nelson respondeu: “Mas Helio, o Zuenir, essa doce figura, será que ele não vai colocar uma bomba aí no quartel?” Helio negou, o dramaturgo se convenceu de que meu pai não era um perigo e assinou um documento se responsabilizando pelos dois.
E assim o psicanalista e o jornalista que anos depois escreveria o clássico “1968 – O ano que não terminou” acabaram enfim libertados.
domingo, outubro 21, 2018
Rodrigo Ogi - Anjo caído (Prod Nave e Ogi) Video Clipe Oficial
Roubei o winchester 22 de pablo antes de chegar no santo cristo
Dei quatro tiros em mefisto
Por esses dois atos acima, com um terno no banco dos réus agora eu sou visto
É uma fragrância
A culpa possui um cheiro tão forte que me dá ânsia
Sempre que eu jogo com a morte a distância
O e-g-o faz o-g-I ter prepotência
Não posso bambear
The Suffocation of Democracy |
 Publish Post
Publish Post "The most original revelation of the current wave of authoritarians is that the construction of overtly antidemocratic dictatorships aspiring to totalitarianism is unnecessary for holding power. Perhaps the most apt designation of this new authoritarianism is the insidious term “illiberal democracy.” Recep Tayyip Erdoğan in Turkey, Putin in Russia, Rodrigo Duterte in the Philippines, and Viktor Orbán in Hungary have all discovered that opposition parties can be left in existence and elections can be held in order to provide a fig leaf of democratic legitimacy, while in reality elections pose scant challenge to their power. Truly dangerous opposition leaders are neutralized or eliminated one way or another.
Total control of the press and other media is likewise unnecessary, since a flood of managed and fake news so pollutes the flow of information that facts and truth become irrelevant as shapers of public opinion. Once-independent judiciaries are gradually dismantled through selective purging and the appointment of politically reliable loyalists. Crony capitalism opens the way to a symbiosis of corruption and self-enrichment between political and business leaders. Xenophobic nationalism (and in many cases explicitly anti-immigrant white nationalism) as well as the prioritization of “law and order” over individual rights are also crucial to these regimes in mobilizing the popular support of their bases and stigmatizing their enemies."
read analysis by Christopher Browning
The Suffocation of Democracy | by Christopher R. Browning | The New York Review of Books:
Os formadores da onda

"Lucia atribui sua mudança política “a uma coisa chamada internet, que abre os olhos da gente”. “Coisa que a tevê demorava dois dias pra dar, a internet dá em duas horas”, explicou, para em seguida exemplificar: “No começo eu jurava que o Lula tinha sido induzido a erro. Mas depois de tudo o que li, hoje acho até que ele mereceu ser preso lá atrás, nos anos 80. A Dilma também. Ela sequestrou e matou [não há registro de assassinato cometido pela ex-presidente].”
Como nunca havia votado na direita, Lucia teve certo receio de apoiar Bolsonaro. “Achava que ele era homofóbico, nazista, racista, taxista, frentista, tudo que é ista”, brincou. “Mas depois entendi que isso era só o que a mídia falava.”"
leia a reportagem de Roberto Kaz
Os formadores da onda: Superpop, comunismo e Lava Jato: sete eleitores de uma mesma família no Rio de Janeiro enumeram as razões por que votam em Bolsonaro
e o blog0news continua…
visite a lista de arquivos na coluna da esquerda
para passear pelos posts passados
ESTATÍSTICAS SITEMETER