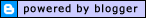This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
Vislumbres
Previous Posts
- Vida de cachorro
- Discurso contra fim da 6 x 1 ecoa a resisencia ao ...
- John Hammond - Mean Old Frisco (1963)
- Rua do Carmo
- Chomsky and Epstein
- Jupiter Maçã - AJ5
- National Maritime Museum
- Ainda está quente
- The Fish Cheer / I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To Die Rag...
- Blue Rondo a La Turk - Klacto Vee Sedstein
Assinar
Comentários [Atom]
Archives
- 13/10/2002 - 20/10/2002
- 20/10/2002 - 27/10/2002
- 27/10/2002 - 03/11/2002
- 03/11/2002 - 10/11/2002
- 10/11/2002 - 17/11/2002
- 17/11/2002 - 24/11/2002
- 24/11/2002 - 01/12/2002
- 01/12/2002 - 08/12/2002
- 08/12/2002 - 15/12/2002
- 15/12/2002 - 22/12/2002
- 22/12/2002 - 29/12/2002
- 29/12/2002 - 05/01/2003
- 05/01/2003 - 12/01/2003
- 12/01/2003 - 19/01/2003
- 19/01/2003 - 26/01/2003
- 26/01/2003 - 02/02/2003
- 02/02/2003 - 09/02/2003
- 09/02/2003 - 16/02/2003
- 16/02/2003 - 23/02/2003
- 23/02/2003 - 02/03/2003
- 02/03/2003 - 09/03/2003
- 09/03/2003 - 16/03/2003
- 16/03/2003 - 23/03/2003
- 23/03/2003 - 30/03/2003
- 30/03/2003 - 06/04/2003
- 06/04/2003 - 13/04/2003
- 13/04/2003 - 20/04/2003
- 20/04/2003 - 27/04/2003
- 27/04/2003 - 04/05/2003
- 04/05/2003 - 11/05/2003
- 11/05/2003 - 18/05/2003
- 18/05/2003 - 25/05/2003
- 25/05/2003 - 01/06/2003
- 01/06/2003 - 08/06/2003
- 08/06/2003 - 15/06/2003
- 15/06/2003 - 22/06/2003
- 22/06/2003 - 29/06/2003
- 29/06/2003 - 06/07/2003
- 06/07/2003 - 13/07/2003
- 13/07/2003 - 20/07/2003
- 20/07/2003 - 27/07/2003
- 27/07/2003 - 03/08/2003
- 17/08/2003 - 24/08/2003
- 24/08/2003 - 31/08/2003
- 31/08/2003 - 07/09/2003
- 07/09/2003 - 14/09/2003
- 14/09/2003 - 21/09/2003
- 21/09/2003 - 28/09/2003
- 28/09/2003 - 05/10/2003
- 05/10/2003 - 12/10/2003
- 12/10/2003 - 19/10/2003
- 19/10/2003 - 26/10/2003
- 26/10/2003 - 02/11/2003
- 02/11/2003 - 09/11/2003
- 09/11/2003 - 16/11/2003
- 16/11/2003 - 23/11/2003
- 23/11/2003 - 30/11/2003
- 30/11/2003 - 07/12/2003
- 07/12/2003 - 14/12/2003
- 14/12/2003 - 21/12/2003
- 21/12/2003 - 28/12/2003
- 28/12/2003 - 04/01/2004
- 04/01/2004 - 11/01/2004
- 11/01/2004 - 18/01/2004
- 18/01/2004 - 25/01/2004
- 25/01/2004 - 01/02/2004
- 01/02/2004 - 08/02/2004
- 08/02/2004 - 15/02/2004
- 15/02/2004 - 22/02/2004
- 22/02/2004 - 29/02/2004
- 29/02/2004 - 07/03/2004
- 07/03/2004 - 14/03/2004
- 14/03/2004 - 21/03/2004
- 21/03/2004 - 28/03/2004
- 28/03/2004 - 04/04/2004
- 04/04/2004 - 11/04/2004
- 11/04/2004 - 18/04/2004
- 18/04/2004 - 25/04/2004
- 25/04/2004 - 02/05/2004
- 02/05/2004 - 09/05/2004
- 09/05/2004 - 16/05/2004
- 16/05/2004 - 23/05/2004
- 23/05/2004 - 30/05/2004
- 30/05/2004 - 06/06/2004
- 06/06/2004 - 13/06/2004
- 13/06/2004 - 20/06/2004
- 20/06/2004 - 27/06/2004
- 27/06/2004 - 04/07/2004
- 04/07/2004 - 11/07/2004
- 11/07/2004 - 18/07/2004
- 18/07/2004 - 25/07/2004
- 25/07/2004 - 01/08/2004
- 01/08/2004 - 08/08/2004
- 08/08/2004 - 15/08/2004
- 15/08/2004 - 22/08/2004
- 22/08/2004 - 29/08/2004
- 29/08/2004 - 05/09/2004
- 05/09/2004 - 12/09/2004
- 12/09/2004 - 19/09/2004
- 19/09/2004 - 26/09/2004
- 26/09/2004 - 03/10/2004
- 03/10/2004 - 10/10/2004
- 10/10/2004 - 17/10/2004
- 17/10/2004 - 24/10/2004
- 24/10/2004 - 31/10/2004
- 31/10/2004 - 07/11/2004
- 07/11/2004 - 14/11/2004
- 14/11/2004 - 21/11/2004
- 21/11/2004 - 28/11/2004
- 28/11/2004 - 05/12/2004
- 05/12/2004 - 12/12/2004
- 12/12/2004 - 19/12/2004
- 19/12/2004 - 26/12/2004
- 26/12/2004 - 02/01/2005
- 02/01/2005 - 09/01/2005
- 09/01/2005 - 16/01/2005
- 16/01/2005 - 23/01/2005
- 23/01/2005 - 30/01/2005
- 30/01/2005 - 06/02/2005
- 06/02/2005 - 13/02/2005
- 13/02/2005 - 20/02/2005
- 20/02/2005 - 27/02/2005
- 27/02/2005 - 06/03/2005
- 06/03/2005 - 13/03/2005
- 13/03/2005 - 20/03/2005
- 20/03/2005 - 27/03/2005
- 27/03/2005 - 03/04/2005
- 03/04/2005 - 10/04/2005
- 10/04/2005 - 17/04/2005
- 17/04/2005 - 24/04/2005
- 04/12/2005 - 11/12/2005
- 25/12/2005 - 01/01/2006
- 16/04/2006 - 23/04/2006
- 30/07/2006 - 06/08/2006
- 06/08/2006 - 13/08/2006
- 13/08/2006 - 20/08/2006
- 20/08/2006 - 27/08/2006
- 27/08/2006 - 03/09/2006
- 03/09/2006 - 10/09/2006
- 10/09/2006 - 17/09/2006
- 17/09/2006 - 24/09/2006
- 24/09/2006 - 01/10/2006
- 01/10/2006 - 08/10/2006
- 08/10/2006 - 15/10/2006
- 15/10/2006 - 22/10/2006
- 22/10/2006 - 29/10/2006
- 29/10/2006 - 05/11/2006
- 05/11/2006 - 12/11/2006
- 17/12/2006 - 24/12/2006
- 21/01/2007 - 28/01/2007
- 28/01/2007 - 04/02/2007
- 04/02/2007 - 11/02/2007
- 18/02/2007 - 25/02/2007
- 04/03/2007 - 11/03/2007
- 11/03/2007 - 18/03/2007
- 18/03/2007 - 25/03/2007
- 25/03/2007 - 01/04/2007
- 01/04/2007 - 08/04/2007
- 08/04/2007 - 15/04/2007
- 15/04/2007 - 22/04/2007
- 22/04/2007 - 29/04/2007
- 29/04/2007 - 06/05/2007
- 06/05/2007 - 13/05/2007
- 13/05/2007 - 20/05/2007
- 20/05/2007 - 27/05/2007
- 27/05/2007 - 03/06/2007
- 03/06/2007 - 10/06/2007
- 10/06/2007 - 17/06/2007
- 17/06/2007 - 24/06/2007
- 24/06/2007 - 01/07/2007
- 01/07/2007 - 08/07/2007
- 08/07/2007 - 15/07/2007
- 15/07/2007 - 22/07/2007
- 22/07/2007 - 29/07/2007
- 09/09/2007 - 16/09/2007
- 16/09/2007 - 23/09/2007
- 23/09/2007 - 30/09/2007
- 30/09/2007 - 07/10/2007
- 07/10/2007 - 14/10/2007
- 04/11/2007 - 11/11/2007
- 11/11/2007 - 18/11/2007
- 18/11/2007 - 25/11/2007
- 25/11/2007 - 02/12/2007
- 02/12/2007 - 09/12/2007
- 09/12/2007 - 16/12/2007
- 13/01/2008 - 20/01/2008
- 20/01/2008 - 27/01/2008
- 27/01/2008 - 03/02/2008
- 03/02/2008 - 10/02/2008
- 10/02/2008 - 17/02/2008
- 17/02/2008 - 24/02/2008
- 02/03/2008 - 09/03/2008
- 16/03/2008 - 23/03/2008
- 23/03/2008 - 30/03/2008
- 30/03/2008 - 06/04/2008
- 27/04/2008 - 04/05/2008
- 29/06/2008 - 06/07/2008
- 06/07/2008 - 13/07/2008
- 13/07/2008 - 20/07/2008
- 20/07/2008 - 27/07/2008
- 27/07/2008 - 03/08/2008
- 03/08/2008 - 10/08/2008
- 17/08/2008 - 24/08/2008
- 24/08/2008 - 31/08/2008
- 07/09/2008 - 14/09/2008
- 14/09/2008 - 21/09/2008
- 21/09/2008 - 28/09/2008
- 28/09/2008 - 05/10/2008
- 05/10/2008 - 12/10/2008
- 12/10/2008 - 19/10/2008
- 19/10/2008 - 26/10/2008
- 26/10/2008 - 02/11/2008
- 02/11/2008 - 09/11/2008
- 07/12/2008 - 14/12/2008
- 14/12/2008 - 21/12/2008
- 21/12/2008 - 28/12/2008
- 28/12/2008 - 04/01/2009
- 04/01/2009 - 11/01/2009
- 11/01/2009 - 18/01/2009
- 18/01/2009 - 25/01/2009
- 25/01/2009 - 01/02/2009
- 08/02/2009 - 15/02/2009
- 15/02/2009 - 22/02/2009
- 22/02/2009 - 01/03/2009
- 01/03/2009 - 08/03/2009
- 08/03/2009 - 15/03/2009
- 15/03/2009 - 22/03/2009
- 22/03/2009 - 29/03/2009
- 29/03/2009 - 05/04/2009
- 05/04/2009 - 12/04/2009
- 12/04/2009 - 19/04/2009
- 19/04/2009 - 26/04/2009
- 26/04/2009 - 03/05/2009
- 03/05/2009 - 10/05/2009
- 10/05/2009 - 17/05/2009
- 17/05/2009 - 24/05/2009
- 24/05/2009 - 31/05/2009
- 31/05/2009 - 07/06/2009
- 07/06/2009 - 14/06/2009
- 14/06/2009 - 21/06/2009
- 21/06/2009 - 28/06/2009
- 28/06/2009 - 05/07/2009
- 05/07/2009 - 12/07/2009
- 12/07/2009 - 19/07/2009
- 19/07/2009 - 26/07/2009
- 26/07/2009 - 02/08/2009
- 02/08/2009 - 09/08/2009
- 09/08/2009 - 16/08/2009
- 16/08/2009 - 23/08/2009
- 23/08/2009 - 30/08/2009
- 30/08/2009 - 06/09/2009
- 06/09/2009 - 13/09/2009
- 13/09/2009 - 20/09/2009
- 20/09/2009 - 27/09/2009
- 27/09/2009 - 04/10/2009
- 04/10/2009 - 11/10/2009
- 11/10/2009 - 18/10/2009
- 18/10/2009 - 25/10/2009
- 25/10/2009 - 01/11/2009
- 01/11/2009 - 08/11/2009
- 08/11/2009 - 15/11/2009
- 15/11/2009 - 22/11/2009
- 22/11/2009 - 29/11/2009
- 29/11/2009 - 06/12/2009
- 06/12/2009 - 13/12/2009
- 13/12/2009 - 20/12/2009
- 20/12/2009 - 27/12/2009
- 27/12/2009 - 03/01/2010
- 03/01/2010 - 10/01/2010
- 10/01/2010 - 17/01/2010
- 17/01/2010 - 24/01/2010
- 24/01/2010 - 31/01/2010
- 31/01/2010 - 07/02/2010
- 07/02/2010 - 14/02/2010
- 14/02/2010 - 21/02/2010
- 21/02/2010 - 28/02/2010
- 28/02/2010 - 07/03/2010
- 07/03/2010 - 14/03/2010
- 14/03/2010 - 21/03/2010
- 21/03/2010 - 28/03/2010
- 28/03/2010 - 04/04/2010
- 04/04/2010 - 11/04/2010
- 11/04/2010 - 18/04/2010
- 25/04/2010 - 02/05/2010
- 02/05/2010 - 09/05/2010
- 09/05/2010 - 16/05/2010
- 16/05/2010 - 23/05/2010
- 23/05/2010 - 30/05/2010
- 30/05/2010 - 06/06/2010
- 06/06/2010 - 13/06/2010
- 13/06/2010 - 20/06/2010
- 20/06/2010 - 27/06/2010
- 04/07/2010 - 11/07/2010
- 11/07/2010 - 18/07/2010
- 18/07/2010 - 25/07/2010
- 25/07/2010 - 01/08/2010
- 08/08/2010 - 15/08/2010
- 15/08/2010 - 22/08/2010
- 22/08/2010 - 29/08/2010
- 29/08/2010 - 05/09/2010
- 05/09/2010 - 12/09/2010
- 12/09/2010 - 19/09/2010
- 19/09/2010 - 26/09/2010
- 26/09/2010 - 03/10/2010
- 24/10/2010 - 31/10/2010
- 21/11/2010 - 28/11/2010
- 28/11/2010 - 05/12/2010
- 05/12/2010 - 12/12/2010
- 12/12/2010 - 19/12/2010
- 19/12/2010 - 26/12/2010
- 26/12/2010 - 02/01/2011
- 02/01/2011 - 09/01/2011
- 09/01/2011 - 16/01/2011
- 16/01/2011 - 23/01/2011
- 23/01/2011 - 30/01/2011
- 30/01/2011 - 06/02/2011
- 06/02/2011 - 13/02/2011
- 13/02/2011 - 20/02/2011
- 20/02/2011 - 27/02/2011
- 27/02/2011 - 06/03/2011
- 06/03/2011 - 13/03/2011
- 13/03/2011 - 20/03/2011
- 20/03/2011 - 27/03/2011
- 27/03/2011 - 03/04/2011
- 03/04/2011 - 10/04/2011
- 10/04/2011 - 17/04/2011
- 17/04/2011 - 24/04/2011
- 24/04/2011 - 01/05/2011
- 01/05/2011 - 08/05/2011
- 08/05/2011 - 15/05/2011
- 15/05/2011 - 22/05/2011
- 22/05/2011 - 29/05/2011
- 29/05/2011 - 05/06/2011
- 05/06/2011 - 12/06/2011
- 12/06/2011 - 19/06/2011
- 19/06/2011 - 26/06/2011
- 26/06/2011 - 03/07/2011
- 03/07/2011 - 10/07/2011
- 10/07/2011 - 17/07/2011
- 17/07/2011 - 24/07/2011
- 24/07/2011 - 31/07/2011
- 31/07/2011 - 07/08/2011
- 07/08/2011 - 14/08/2011
- 14/08/2011 - 21/08/2011
- 21/08/2011 - 28/08/2011
- 28/08/2011 - 04/09/2011
- 04/09/2011 - 11/09/2011
- 11/09/2011 - 18/09/2011
- 18/09/2011 - 25/09/2011
- 25/09/2011 - 02/10/2011
- 02/10/2011 - 09/10/2011
- 09/10/2011 - 16/10/2011
- 16/10/2011 - 23/10/2011
- 23/10/2011 - 30/10/2011
- 30/10/2011 - 06/11/2011
- 06/11/2011 - 13/11/2011
- 13/11/2011 - 20/11/2011
- 20/11/2011 - 27/11/2011
- 27/11/2011 - 04/12/2011
- 04/12/2011 - 11/12/2011
- 11/12/2011 - 18/12/2011
- 18/12/2011 - 25/12/2011
- 25/12/2011 - 01/01/2012
- 01/01/2012 - 08/01/2012
- 08/01/2012 - 15/01/2012
- 15/01/2012 - 22/01/2012
- 22/01/2012 - 29/01/2012
- 29/01/2012 - 05/02/2012
- 05/02/2012 - 12/02/2012
- 12/02/2012 - 19/02/2012
- 19/02/2012 - 26/02/2012
- 26/02/2012 - 04/03/2012
- 04/03/2012 - 11/03/2012
- 11/03/2012 - 18/03/2012
- 18/03/2012 - 25/03/2012
- 25/03/2012 - 01/04/2012
- 01/04/2012 - 08/04/2012
- 08/04/2012 - 15/04/2012
- 15/04/2012 - 22/04/2012
- 22/04/2012 - 29/04/2012
- 29/04/2012 - 06/05/2012
- 06/05/2012 - 13/05/2012
- 13/05/2012 - 20/05/2012
- 20/05/2012 - 27/05/2012
- 27/05/2012 - 03/06/2012
- 03/06/2012 - 10/06/2012
- 10/06/2012 - 17/06/2012
- 17/06/2012 - 24/06/2012
- 24/06/2012 - 01/07/2012
- 01/07/2012 - 08/07/2012
- 08/07/2012 - 15/07/2012
- 15/07/2012 - 22/07/2012
- 22/07/2012 - 29/07/2012
- 29/07/2012 - 05/08/2012
- 05/08/2012 - 12/08/2012
- 12/08/2012 - 19/08/2012
- 19/08/2012 - 26/08/2012
- 26/08/2012 - 02/09/2012
- 02/09/2012 - 09/09/2012
- 09/09/2012 - 16/09/2012
- 16/09/2012 - 23/09/2012
- 23/09/2012 - 30/09/2012
- 30/09/2012 - 07/10/2012
- 07/10/2012 - 14/10/2012
- 14/10/2012 - 21/10/2012
- 21/10/2012 - 28/10/2012
- 28/10/2012 - 04/11/2012
- 04/11/2012 - 11/11/2012
- 11/11/2012 - 18/11/2012
- 18/11/2012 - 25/11/2012
- 25/11/2012 - 02/12/2012
- 02/12/2012 - 09/12/2012
- 09/12/2012 - 16/12/2012
- 16/12/2012 - 23/12/2012
- 23/12/2012 - 30/12/2012
- 30/12/2012 - 06/01/2013
- 06/01/2013 - 13/01/2013
- 13/01/2013 - 20/01/2013
- 20/01/2013 - 27/01/2013
- 27/01/2013 - 03/02/2013
- 03/02/2013 - 10/02/2013
- 10/02/2013 - 17/02/2013
- 17/02/2013 - 24/02/2013
- 24/02/2013 - 03/03/2013
- 03/03/2013 - 10/03/2013
- 10/03/2013 - 17/03/2013
- 17/03/2013 - 24/03/2013
- 24/03/2013 - 31/03/2013
- 31/03/2013 - 07/04/2013
- 07/04/2013 - 14/04/2013
- 14/04/2013 - 21/04/2013
- 21/04/2013 - 28/04/2013
- 28/04/2013 - 05/05/2013
- 05/05/2013 - 12/05/2013
- 12/05/2013 - 19/05/2013
- 19/05/2013 - 26/05/2013
- 26/05/2013 - 02/06/2013
- 02/06/2013 - 09/06/2013
- 09/06/2013 - 16/06/2013
- 16/06/2013 - 23/06/2013
- 23/06/2013 - 30/06/2013
- 30/06/2013 - 07/07/2013
- 07/07/2013 - 14/07/2013
- 14/07/2013 - 21/07/2013
- 21/07/2013 - 28/07/2013
- 28/07/2013 - 04/08/2013
- 04/08/2013 - 11/08/2013
- 11/08/2013 - 18/08/2013
- 18/08/2013 - 25/08/2013
- 25/08/2013 - 01/09/2013
- 01/09/2013 - 08/09/2013
- 08/09/2013 - 15/09/2013
- 15/09/2013 - 22/09/2013
- 22/09/2013 - 29/09/2013
- 29/09/2013 - 06/10/2013
- 06/10/2013 - 13/10/2013
- 13/10/2013 - 20/10/2013
- 20/10/2013 - 27/10/2013
- 27/10/2013 - 03/11/2013
- 03/11/2013 - 10/11/2013
- 10/11/2013 - 17/11/2013
- 17/11/2013 - 24/11/2013
- 24/11/2013 - 01/12/2013
- 08/12/2013 - 15/12/2013
- 15/12/2013 - 22/12/2013
- 22/12/2013 - 29/12/2013
- 29/12/2013 - 05/01/2014
- 05/01/2014 - 12/01/2014
- 12/01/2014 - 19/01/2014
- 19/01/2014 - 26/01/2014
- 26/01/2014 - 02/02/2014
- 02/02/2014 - 09/02/2014
- 09/02/2014 - 16/02/2014
- 16/02/2014 - 23/02/2014
- 23/02/2014 - 02/03/2014
- 02/03/2014 - 09/03/2014
- 09/03/2014 - 16/03/2014
- 16/03/2014 - 23/03/2014
- 23/03/2014 - 30/03/2014
- 30/03/2014 - 06/04/2014
- 06/04/2014 - 13/04/2014
- 13/04/2014 - 20/04/2014
- 20/04/2014 - 27/04/2014
- 27/04/2014 - 04/05/2014
- 04/05/2014 - 11/05/2014
- 11/05/2014 - 18/05/2014
- 18/05/2014 - 25/05/2014
- 25/05/2014 - 01/06/2014
- 01/06/2014 - 08/06/2014
- 08/06/2014 - 15/06/2014
- 15/06/2014 - 22/06/2014
- 22/06/2014 - 29/06/2014
- 29/06/2014 - 06/07/2014
- 06/07/2014 - 13/07/2014
- 13/07/2014 - 20/07/2014
- 20/07/2014 - 27/07/2014
- 27/07/2014 - 03/08/2014
- 03/08/2014 - 10/08/2014
- 10/08/2014 - 17/08/2014
- 17/08/2014 - 24/08/2014
- 24/08/2014 - 31/08/2014
- 31/08/2014 - 07/09/2014
- 07/09/2014 - 14/09/2014
- 14/09/2014 - 21/09/2014
- 21/09/2014 - 28/09/2014
- 28/09/2014 - 05/10/2014
- 05/10/2014 - 12/10/2014
- 12/10/2014 - 19/10/2014
- 19/10/2014 - 26/10/2014
- 26/10/2014 - 02/11/2014
- 02/11/2014 - 09/11/2014
- 09/11/2014 - 16/11/2014
- 16/11/2014 - 23/11/2014
- 23/11/2014 - 30/11/2014
- 30/11/2014 - 07/12/2014
- 07/12/2014 - 14/12/2014
- 14/12/2014 - 21/12/2014
- 21/12/2014 - 28/12/2014
- 28/12/2014 - 04/01/2015
- 04/01/2015 - 11/01/2015
- 11/01/2015 - 18/01/2015
- 18/01/2015 - 25/01/2015
- 25/01/2015 - 01/02/2015
- 01/02/2015 - 08/02/2015
- 08/02/2015 - 15/02/2015
- 15/02/2015 - 22/02/2015
- 22/02/2015 - 01/03/2015
- 01/03/2015 - 08/03/2015
- 08/03/2015 - 15/03/2015
- 15/03/2015 - 22/03/2015
- 22/03/2015 - 29/03/2015
- 29/03/2015 - 05/04/2015
- 05/04/2015 - 12/04/2015
- 12/04/2015 - 19/04/2015
- 19/04/2015 - 26/04/2015
- 26/04/2015 - 03/05/2015
- 03/05/2015 - 10/05/2015
- 10/05/2015 - 17/05/2015
- 17/05/2015 - 24/05/2015
- 24/05/2015 - 31/05/2015
- 31/05/2015 - 07/06/2015
- 07/06/2015 - 14/06/2015
- 14/06/2015 - 21/06/2015
- 21/06/2015 - 28/06/2015
- 28/06/2015 - 05/07/2015
- 05/07/2015 - 12/07/2015
- 12/07/2015 - 19/07/2015
- 19/07/2015 - 26/07/2015
- 26/07/2015 - 02/08/2015
- 02/08/2015 - 09/08/2015
- 09/08/2015 - 16/08/2015
- 16/08/2015 - 23/08/2015
- 23/08/2015 - 30/08/2015
- 30/08/2015 - 06/09/2015
- 06/09/2015 - 13/09/2015
- 13/09/2015 - 20/09/2015
- 20/09/2015 - 27/09/2015
- 04/10/2015 - 11/10/2015
- 11/10/2015 - 18/10/2015
- 18/10/2015 - 25/10/2015
- 25/10/2015 - 01/11/2015
- 01/11/2015 - 08/11/2015
- 08/11/2015 - 15/11/2015
- 15/11/2015 - 22/11/2015
- 22/11/2015 - 29/11/2015
- 29/11/2015 - 06/12/2015
- 06/12/2015 - 13/12/2015
- 13/12/2015 - 20/12/2015
- 20/12/2015 - 27/12/2015
- 27/12/2015 - 03/01/2016
- 03/01/2016 - 10/01/2016
- 10/01/2016 - 17/01/2016
- 17/01/2016 - 24/01/2016
- 24/01/2016 - 31/01/2016
- 31/01/2016 - 07/02/2016
- 07/02/2016 - 14/02/2016
- 14/02/2016 - 21/02/2016
- 21/02/2016 - 28/02/2016
- 28/02/2016 - 06/03/2016
- 06/03/2016 - 13/03/2016
- 13/03/2016 - 20/03/2016
- 20/03/2016 - 27/03/2016
- 27/03/2016 - 03/04/2016
- 03/04/2016 - 10/04/2016
- 10/04/2016 - 17/04/2016
- 17/04/2016 - 24/04/2016
- 24/04/2016 - 01/05/2016
- 01/05/2016 - 08/05/2016
- 08/05/2016 - 15/05/2016
- 15/05/2016 - 22/05/2016
- 22/05/2016 - 29/05/2016
- 29/05/2016 - 05/06/2016
- 05/06/2016 - 12/06/2016
- 12/06/2016 - 19/06/2016
- 19/06/2016 - 26/06/2016
- 26/06/2016 - 03/07/2016
- 03/07/2016 - 10/07/2016
- 10/07/2016 - 17/07/2016
- 17/07/2016 - 24/07/2016
- 24/07/2016 - 31/07/2016
- 31/07/2016 - 07/08/2016
- 07/08/2016 - 14/08/2016
- 14/08/2016 - 21/08/2016
- 21/08/2016 - 28/08/2016
- 28/08/2016 - 04/09/2016
- 04/09/2016 - 11/09/2016
- 11/09/2016 - 18/09/2016
- 18/09/2016 - 25/09/2016
- 25/09/2016 - 02/10/2016
- 02/10/2016 - 09/10/2016
- 09/10/2016 - 16/10/2016
- 16/10/2016 - 23/10/2016
- 23/10/2016 - 30/10/2016
- 30/10/2016 - 06/11/2016
- 06/11/2016 - 13/11/2016
- 13/11/2016 - 20/11/2016
- 20/11/2016 - 27/11/2016
- 27/11/2016 - 04/12/2016
- 04/12/2016 - 11/12/2016
- 11/12/2016 - 18/12/2016
- 18/12/2016 - 25/12/2016
- 25/12/2016 - 01/01/2017
- 01/01/2017 - 08/01/2017
- 08/01/2017 - 15/01/2017
- 15/01/2017 - 22/01/2017
- 22/01/2017 - 29/01/2017
- 29/01/2017 - 05/02/2017
- 05/02/2017 - 12/02/2017
- 12/02/2017 - 19/02/2017
- 19/02/2017 - 26/02/2017
- 26/02/2017 - 05/03/2017
- 05/03/2017 - 12/03/2017
- 12/03/2017 - 19/03/2017
- 19/03/2017 - 26/03/2017
- 26/03/2017 - 02/04/2017
- 02/04/2017 - 09/04/2017
- 09/04/2017 - 16/04/2017
- 16/04/2017 - 23/04/2017
- 23/04/2017 - 30/04/2017
- 30/04/2017 - 07/05/2017
- 07/05/2017 - 14/05/2017
- 14/05/2017 - 21/05/2017
- 21/05/2017 - 28/05/2017
- 28/05/2017 - 04/06/2017
- 04/06/2017 - 11/06/2017
- 11/06/2017 - 18/06/2017
- 18/06/2017 - 25/06/2017
- 25/06/2017 - 02/07/2017
- 02/07/2017 - 09/07/2017
- 09/07/2017 - 16/07/2017
- 16/07/2017 - 23/07/2017
- 23/07/2017 - 30/07/2017
- 30/07/2017 - 06/08/2017
- 06/08/2017 - 13/08/2017
- 13/08/2017 - 20/08/2017
- 20/08/2017 - 27/08/2017
- 27/08/2017 - 03/09/2017
- 03/09/2017 - 10/09/2017
- 10/09/2017 - 17/09/2017
- 17/09/2017 - 24/09/2017
- 24/09/2017 - 01/10/2017
- 01/10/2017 - 08/10/2017
- 08/10/2017 - 15/10/2017
- 15/10/2017 - 22/10/2017
- 22/10/2017 - 29/10/2017
- 29/10/2017 - 05/11/2017
- 05/11/2017 - 12/11/2017
- 12/11/2017 - 19/11/2017
- 19/11/2017 - 26/11/2017
- 26/11/2017 - 03/12/2017
- 03/12/2017 - 10/12/2017
- 10/12/2017 - 17/12/2017
- 17/12/2017 - 24/12/2017
- 24/12/2017 - 31/12/2017
- 31/12/2017 - 07/01/2018
- 07/01/2018 - 14/01/2018
- 14/01/2018 - 21/01/2018
- 21/01/2018 - 28/01/2018
- 28/01/2018 - 04/02/2018
- 04/02/2018 - 11/02/2018
- 11/02/2018 - 18/02/2018
- 18/02/2018 - 25/02/2018
- 25/02/2018 - 04/03/2018
- 04/03/2018 - 11/03/2018
- 11/03/2018 - 18/03/2018
- 18/03/2018 - 25/03/2018
- 25/03/2018 - 01/04/2018
- 01/04/2018 - 08/04/2018
- 08/04/2018 - 15/04/2018
- 15/04/2018 - 22/04/2018
- 22/04/2018 - 29/04/2018
- 29/04/2018 - 06/05/2018
- 06/05/2018 - 13/05/2018
- 13/05/2018 - 20/05/2018
- 20/05/2018 - 27/05/2018
- 27/05/2018 - 03/06/2018
- 03/06/2018 - 10/06/2018
- 10/06/2018 - 17/06/2018
- 17/06/2018 - 24/06/2018
- 24/06/2018 - 01/07/2018
- 01/07/2018 - 08/07/2018
- 08/07/2018 - 15/07/2018
- 15/07/2018 - 22/07/2018
- 22/07/2018 - 29/07/2018
- 29/07/2018 - 05/08/2018
- 05/08/2018 - 12/08/2018
- 12/08/2018 - 19/08/2018
- 19/08/2018 - 26/08/2018
- 26/08/2018 - 02/09/2018
- 02/09/2018 - 09/09/2018
- 09/09/2018 - 16/09/2018
- 16/09/2018 - 23/09/2018
- 23/09/2018 - 30/09/2018
- 30/09/2018 - 07/10/2018
- 07/10/2018 - 14/10/2018
- 14/10/2018 - 21/10/2018
- 21/10/2018 - 28/10/2018
- 28/10/2018 - 04/11/2018
- 04/11/2018 - 11/11/2018
- 11/11/2018 - 18/11/2018
- 18/11/2018 - 25/11/2018
- 25/11/2018 - 02/12/2018
- 02/12/2018 - 09/12/2018
- 09/12/2018 - 16/12/2018
- 16/12/2018 - 23/12/2018
- 23/12/2018 - 30/12/2018
- 30/12/2018 - 06/01/2019
- 06/01/2019 - 13/01/2019
- 13/01/2019 - 20/01/2019
- 20/01/2019 - 27/01/2019
- 27/01/2019 - 03/02/2019
- 03/02/2019 - 10/02/2019
- 10/02/2019 - 17/02/2019
- 17/02/2019 - 24/02/2019
- 24/02/2019 - 03/03/2019
- 03/03/2019 - 10/03/2019
- 10/03/2019 - 17/03/2019
- 17/03/2019 - 24/03/2019
- 24/03/2019 - 31/03/2019
- 31/03/2019 - 07/04/2019
- 07/04/2019 - 14/04/2019
- 14/04/2019 - 21/04/2019
- 21/04/2019 - 28/04/2019
- 28/04/2019 - 05/05/2019
- 05/05/2019 - 12/05/2019
- 12/05/2019 - 19/05/2019
- 19/05/2019 - 26/05/2019
- 26/05/2019 - 02/06/2019
- 02/06/2019 - 09/06/2019
- 09/06/2019 - 16/06/2019
- 16/06/2019 - 23/06/2019
- 23/06/2019 - 30/06/2019
- 30/06/2019 - 07/07/2019
- 07/07/2019 - 14/07/2019
- 14/07/2019 - 21/07/2019
- 21/07/2019 - 28/07/2019
- 28/07/2019 - 04/08/2019
- 04/08/2019 - 11/08/2019
- 11/08/2019 - 18/08/2019
- 18/08/2019 - 25/08/2019
- 25/08/2019 - 01/09/2019
- 01/09/2019 - 08/09/2019
- 15/09/2019 - 22/09/2019
- 22/09/2019 - 29/09/2019
- 29/09/2019 - 06/10/2019
- 06/10/2019 - 13/10/2019
- 13/10/2019 - 20/10/2019
- 20/10/2019 - 27/10/2019
- 27/10/2019 - 03/11/2019
- 03/11/2019 - 10/11/2019
- 10/11/2019 - 17/11/2019
- 17/11/2019 - 24/11/2019
- 24/11/2019 - 01/12/2019
- 01/12/2019 - 08/12/2019
- 08/12/2019 - 15/12/2019
- 15/12/2019 - 22/12/2019
- 22/12/2019 - 29/12/2019
- 29/12/2019 - 05/01/2020
- 05/01/2020 - 12/01/2020
- 12/01/2020 - 19/01/2020
- 19/01/2020 - 26/01/2020
- 26/01/2020 - 02/02/2020
- 02/02/2020 - 09/02/2020
- 09/02/2020 - 16/02/2020
- 16/02/2020 - 23/02/2020
- 23/02/2020 - 01/03/2020
- 01/03/2020 - 08/03/2020
- 08/03/2020 - 15/03/2020
- 15/03/2020 - 22/03/2020
- 22/03/2020 - 29/03/2020
- 29/03/2020 - 05/04/2020
- 05/04/2020 - 12/04/2020
- 12/04/2020 - 19/04/2020
- 19/04/2020 - 26/04/2020
- 26/04/2020 - 03/05/2020
- 03/05/2020 - 10/05/2020
- 10/05/2020 - 17/05/2020
- 17/05/2020 - 24/05/2020
- 24/05/2020 - 31/05/2020
- 31/05/2020 - 07/06/2020
- 07/06/2020 - 14/06/2020
- 14/06/2020 - 21/06/2020
- 21/06/2020 - 28/06/2020
- 28/06/2020 - 05/07/2020
- 05/07/2020 - 12/07/2020
- 12/07/2020 - 19/07/2020
- 19/07/2020 - 26/07/2020
- 26/07/2020 - 02/08/2020
- 02/08/2020 - 09/08/2020
- 09/08/2020 - 16/08/2020
- 16/08/2020 - 23/08/2020
- 23/08/2020 - 30/08/2020
- 30/08/2020 - 06/09/2020
- 06/09/2020 - 13/09/2020
- 13/09/2020 - 20/09/2020
- 20/09/2020 - 27/09/2020
- 27/09/2020 - 04/10/2020
- 04/10/2020 - 11/10/2020
- 11/10/2020 - 18/10/2020
- 18/10/2020 - 25/10/2020
- 25/10/2020 - 01/11/2020
- 01/11/2020 - 08/11/2020
- 08/11/2020 - 15/11/2020
- 15/11/2020 - 22/11/2020
- 22/11/2020 - 29/11/2020
- 29/11/2020 - 06/12/2020
- 06/12/2020 - 13/12/2020
- 13/12/2020 - 20/12/2020
- 20/12/2020 - 27/12/2020
- 27/12/2020 - 03/01/2021
- 03/01/2021 - 10/01/2021
- 10/01/2021 - 17/01/2021
- 17/01/2021 - 24/01/2021
- 24/01/2021 - 31/01/2021
- 31/01/2021 - 07/02/2021
- 07/02/2021 - 14/02/2021
- 14/02/2021 - 21/02/2021
- 21/02/2021 - 28/02/2021
- 28/02/2021 - 07/03/2021
- 07/03/2021 - 14/03/2021
- 14/03/2021 - 21/03/2021
- 21/03/2021 - 28/03/2021
- 28/03/2021 - 04/04/2021
- 04/04/2021 - 11/04/2021
- 11/04/2021 - 18/04/2021
- 18/04/2021 - 25/04/2021
- 25/04/2021 - 02/05/2021
- 02/05/2021 - 09/05/2021
- 09/05/2021 - 16/05/2021
- 16/05/2021 - 23/05/2021
- 23/05/2021 - 30/05/2021
- 30/05/2021 - 06/06/2021
- 06/06/2021 - 13/06/2021
- 13/06/2021 - 20/06/2021
- 20/06/2021 - 27/06/2021
- 27/06/2021 - 04/07/2021
- 04/07/2021 - 11/07/2021
- 11/07/2021 - 18/07/2021
- 18/07/2021 - 25/07/2021
- 25/07/2021 - 01/08/2021
- 01/08/2021 - 08/08/2021
- 08/08/2021 - 15/08/2021
- 15/08/2021 - 22/08/2021
- 22/08/2021 - 29/08/2021
- 29/08/2021 - 05/09/2021
- 05/09/2021 - 12/09/2021
- 12/09/2021 - 19/09/2021
- 19/09/2021 - 26/09/2021
- 26/09/2021 - 03/10/2021
- 03/10/2021 - 10/10/2021
- 10/10/2021 - 17/10/2021
- 17/10/2021 - 24/10/2021
- 24/10/2021 - 31/10/2021
- 31/10/2021 - 07/11/2021
- 07/11/2021 - 14/11/2021
- 14/11/2021 - 21/11/2021
- 21/11/2021 - 28/11/2021
- 28/11/2021 - 05/12/2021
- 05/12/2021 - 12/12/2021
- 12/12/2021 - 19/12/2021
- 19/12/2021 - 26/12/2021
- 26/12/2021 - 02/01/2022
- 02/01/2022 - 09/01/2022
- 09/01/2022 - 16/01/2022
- 16/01/2022 - 23/01/2022
- 23/01/2022 - 30/01/2022
- 30/01/2022 - 06/02/2022
- 06/02/2022 - 13/02/2022
- 13/02/2022 - 20/02/2022
- 20/02/2022 - 27/02/2022
- 27/02/2022 - 06/03/2022
- 06/03/2022 - 13/03/2022
- 13/03/2022 - 20/03/2022
- 20/03/2022 - 27/03/2022
- 27/03/2022 - 03/04/2022
- 03/04/2022 - 10/04/2022
- 10/04/2022 - 17/04/2022
- 17/04/2022 - 24/04/2022
- 24/04/2022 - 01/05/2022
- 01/05/2022 - 08/05/2022
- 08/05/2022 - 15/05/2022
- 15/05/2022 - 22/05/2022
- 22/05/2022 - 29/05/2022
- 29/05/2022 - 05/06/2022
- 05/06/2022 - 12/06/2022
- 12/06/2022 - 19/06/2022
- 19/06/2022 - 26/06/2022
- 26/06/2022 - 03/07/2022
- 03/07/2022 - 10/07/2022
- 10/07/2022 - 17/07/2022
- 17/07/2022 - 24/07/2022
- 24/07/2022 - 31/07/2022
- 31/07/2022 - 07/08/2022
- 07/08/2022 - 14/08/2022
- 14/08/2022 - 21/08/2022
- 21/08/2022 - 28/08/2022
- 28/08/2022 - 04/09/2022
- 04/09/2022 - 11/09/2022
- 11/09/2022 - 18/09/2022
- 18/09/2022 - 25/09/2022
- 25/09/2022 - 02/10/2022
- 02/10/2022 - 09/10/2022
- 09/10/2022 - 16/10/2022
- 16/10/2022 - 23/10/2022
- 23/10/2022 - 30/10/2022
- 30/10/2022 - 06/11/2022
- 06/11/2022 - 13/11/2022
- 13/11/2022 - 20/11/2022
- 20/11/2022 - 27/11/2022
- 27/11/2022 - 04/12/2022
- 04/12/2022 - 11/12/2022
- 11/12/2022 - 18/12/2022
- 18/12/2022 - 25/12/2022
- 25/12/2022 - 01/01/2023
- 01/01/2023 - 08/01/2023
- 08/01/2023 - 15/01/2023
- 15/01/2023 - 22/01/2023
- 22/01/2023 - 29/01/2023
- 29/01/2023 - 05/02/2023
- 05/02/2023 - 12/02/2023
- 12/02/2023 - 19/02/2023
- 19/02/2023 - 26/02/2023
- 26/02/2023 - 05/03/2023
- 05/03/2023 - 12/03/2023
- 12/03/2023 - 19/03/2023
- 19/03/2023 - 26/03/2023
- 26/03/2023 - 02/04/2023
- 02/04/2023 - 09/04/2023
- 09/04/2023 - 16/04/2023
- 16/04/2023 - 23/04/2023
- 23/04/2023 - 30/04/2023
- 30/04/2023 - 07/05/2023
- 07/05/2023 - 14/05/2023
- 14/05/2023 - 21/05/2023
- 21/05/2023 - 28/05/2023
- 28/05/2023 - 04/06/2023
- 04/06/2023 - 11/06/2023
- 11/06/2023 - 18/06/2023
- 18/06/2023 - 25/06/2023
- 25/06/2023 - 02/07/2023
- 02/07/2023 - 09/07/2023
- 09/07/2023 - 16/07/2023
- 16/07/2023 - 23/07/2023
- 23/07/2023 - 30/07/2023
- 30/07/2023 - 06/08/2023
- 06/08/2023 - 13/08/2023
- 13/08/2023 - 20/08/2023
- 20/08/2023 - 27/08/2023
- 27/08/2023 - 03/09/2023
- 03/09/2023 - 10/09/2023
- 10/09/2023 - 17/09/2023
- 17/09/2023 - 24/09/2023
- 24/09/2023 - 01/10/2023
- 01/10/2023 - 08/10/2023
- 08/10/2023 - 15/10/2023
- 15/10/2023 - 22/10/2023
- 22/10/2023 - 29/10/2023
- 29/10/2023 - 05/11/2023
- 05/11/2023 - 12/11/2023
- 12/11/2023 - 19/11/2023
- 19/11/2023 - 26/11/2023
- 26/11/2023 - 03/12/2023
- 03/12/2023 - 10/12/2023
- 10/12/2023 - 17/12/2023
- 17/12/2023 - 24/12/2023
- 24/12/2023 - 31/12/2023
- 31/12/2023 - 07/01/2024
- 07/01/2024 - 14/01/2024
- 14/01/2024 - 21/01/2024
- 21/01/2024 - 28/01/2024
- 28/01/2024 - 04/02/2024
- 04/02/2024 - 11/02/2024
- 11/02/2024 - 18/02/2024
- 18/02/2024 - 25/02/2024
- 25/02/2024 - 03/03/2024
- 03/03/2024 - 10/03/2024
- 10/03/2024 - 17/03/2024
- 17/03/2024 - 24/03/2024
- 24/03/2024 - 31/03/2024
- 31/03/2024 - 07/04/2024
- 07/04/2024 - 14/04/2024
- 14/04/2024 - 21/04/2024
- 21/04/2024 - 28/04/2024
- 28/04/2024 - 05/05/2024
- 05/05/2024 - 12/05/2024
- 12/05/2024 - 19/05/2024
- 19/05/2024 - 26/05/2024
- 26/05/2024 - 02/06/2024
- 02/06/2024 - 09/06/2024
- 09/06/2024 - 16/06/2024
- 16/06/2024 - 23/06/2024
- 23/06/2024 - 30/06/2024
- 30/06/2024 - 07/07/2024
- 07/07/2024 - 14/07/2024
- 14/07/2024 - 21/07/2024
- 21/07/2024 - 28/07/2024
- 28/07/2024 - 04/08/2024
- 04/08/2024 - 11/08/2024
- 11/08/2024 - 18/08/2024
- 18/08/2024 - 25/08/2024
- 25/08/2024 - 01/09/2024
- 01/09/2024 - 08/09/2024
- 08/09/2024 - 15/09/2024
- 15/09/2024 - 22/09/2024
- 22/09/2024 - 29/09/2024
- 29/09/2024 - 06/10/2024
- 06/10/2024 - 13/10/2024
- 13/10/2024 - 20/10/2024
- 20/10/2024 - 27/10/2024
- 27/10/2024 - 03/11/2024
- 03/11/2024 - 10/11/2024
- 10/11/2024 - 17/11/2024
- 17/11/2024 - 24/11/2024
- 24/11/2024 - 01/12/2024
- 01/12/2024 - 08/12/2024
- 08/12/2024 - 15/12/2024
- 15/12/2024 - 22/12/2024
- 22/12/2024 - 29/12/2024
- 29/12/2024 - 05/01/2025
- 05/01/2025 - 12/01/2025
- 12/01/2025 - 19/01/2025
- 19/01/2025 - 26/01/2025
- 26/01/2025 - 02/02/2025
- 02/02/2025 - 09/02/2025
- 09/02/2025 - 16/02/2025
- 16/02/2025 - 23/02/2025
- 23/02/2025 - 02/03/2025
- 02/03/2025 - 09/03/2025
- 09/03/2025 - 16/03/2025
- 16/03/2025 - 23/03/2025
- 23/03/2025 - 30/03/2025
- 30/03/2025 - 06/04/2025
- 06/04/2025 - 13/04/2025
- 13/04/2025 - 20/04/2025
- 20/04/2025 - 27/04/2025
- 27/04/2025 - 04/05/2025
- 04/05/2025 - 11/05/2025
- 11/05/2025 - 18/05/2025
- 18/05/2025 - 25/05/2025
- 25/05/2025 - 01/06/2025
- 01/06/2025 - 08/06/2025
- 08/06/2025 - 15/06/2025
- 15/06/2025 - 22/06/2025
- 22/06/2025 - 29/06/2025
- 29/06/2025 - 06/07/2025
- 06/07/2025 - 13/07/2025
- 13/07/2025 - 20/07/2025
- 20/07/2025 - 27/07/2025
- 27/07/2025 - 03/08/2025
- 03/08/2025 - 10/08/2025
- 10/08/2025 - 17/08/2025
- 17/08/2025 - 24/08/2025
- 24/08/2025 - 31/08/2025
- 31/08/2025 - 07/09/2025
- 07/09/2025 - 14/09/2025
- 14/09/2025 - 21/09/2025
- 21/09/2025 - 28/09/2025
- 28/09/2025 - 05/10/2025
- 05/10/2025 - 12/10/2025
- 12/10/2025 - 19/10/2025
- 19/10/2025 - 26/10/2025
- 26/10/2025 - 02/11/2025
- 02/11/2025 - 09/11/2025
- 09/11/2025 - 16/11/2025
- 16/11/2025 - 23/11/2025
- 23/11/2025 - 30/11/2025
- 30/11/2025 - 07/12/2025
- 07/12/2025 - 14/12/2025
- 14/12/2025 - 21/12/2025
- 21/12/2025 - 28/12/2025
- 28/12/2025 - 04/01/2026
- 04/01/2026 - 11/01/2026
- 11/01/2026 - 18/01/2026
- 18/01/2026 - 25/01/2026
- 25/01/2026 - 01/02/2026
- 01/02/2026 - 08/02/2026
- 08/02/2026 - 15/02/2026
- 15/02/2026 - 22/02/2026
- 22/02/2026 - 01/03/2026
- 01/03/2026 - 08/03/2026
- 08/03/2026 - 15/03/2026
Fragmentos de textos e imagens catadas nesta tela, capturadas desta web, varridas de jornais, revistas, livros, sons, filtradas pelos olhos e ouvidos e escorrendo pelos dedos para serem derramadas sobre as teclas... e viverem eterna e instanta neamente num logradouro digital. Desagua douro de pensa mentos.
sábado, maio 04, 2019
Vi: TEMPORADA (dir & rot André Novaes Oliveira, Brasil, 2018)
Mais um bom filme a sair de Contagem, Minas Gerais.
Simples e simpático. E muito humano
Mulher muda de cidade e de emprego (combaente da dengue) e vai mudando a sua vida.
Grace Passô dá um show.
The real story behind Harper Lee’s lost true crime book | Books | The Guardian

"But all of that was long in the past by the time Burns shot and killed Maxwell. At the time, Lee was living, as she had been for most of her adult life, on the Upper East Side of Manhattan, hiding in plain sight so successfully that her building’s door buzzer could read “Lee-H” without causing anyone to ring it. Her novel had won the Pulitzer prize, sold millions of copies, and made her extravagantly wealthy, but success did not suit Lee. She lived as frugally as if she were still a starving artist, was allergic to the press and publicity, chafed at the ongoing interest in her private life, and struggled to live up to the critical and popular expectations for her work. In one forlorn letter, she told a friend that “Harper Lee thrives, but at the expense of Nelle” – the name she had gone by as a child, and that those closest to her still used.
By the 70s, Lee’s friends worried about her drinking and her emotional volatility, while everyone worried about her struggles with writing. When she discussed her work, she sounded like some self-mortifying mystic, valorising suffering and solitude: “To be a serious writer requires discipline that is iron fisted,” she once said. “It’s sitting down and doing it whether you think you have it in you or not. Every day. Alone. Without interruption. Contrary to what most people think, there is no glamour in writing. In fact, it’s heartbreak most of the time.”
That heartbreak was obvious to those who knew her. Her neighbours had learned that a late-night knock on the door was likely to be Lee, made brazen by alcohol and looking for more of it; at least once, she confided to one of them that she had just impulsively thrown 300 pages down the incinerator. She told stories about other manuscripts, too, including one that was allegedly stolen from her apartment, but mostly she avoided any talk of writing. Family and friends knew to avoid the subject, too, not only with her but with the world; at most, they would say that Lee was always at work on something. For more than a decade, though, what she was writing, if she was actually writing anything at all, remained a mystery."
read newstory by Casey Cep
The real story behind Harper Lee’s lost true crime book | Books | The Guardian
Billie Eilish - bad guy
So you're a tough guy
Like it really rough guy
Just can't get enough guy
Chest always so puffed guy
I'm that bad type
Make your mama sad type
Make your girlfriend mad tight
Might seduce your dad type
I'm the bad guy, duh
Like it really rough guy
Just can't get enough guy
Chest always so puffed guy
I'm that bad type
Make your mama sad type
Make your girlfriend mad tight
Might seduce your dad type
I'm the bad guy, duh
The Dothraki Are Dead. Does Game of Thrones Care?
"The Dothraki are a people whose culture we spent seasons immersed in, alongside Daenerys. Their depiction may have flirted too strongly with noble savage tropes, and they haven’t been much of a real, felt presence for some time. But Dany spent years growing up with them. She underwent their rituals; she accepted their blood riders as her own. Yes, the show set her apart from the Dothraki in some crucial ways besides her Westerosi heritage — she dared to style herself a female khal, and later, by slaughtering all the khals at Vaes Dothrak, she showed that she was beyond the very notion of khals — but she was still deeply embedded in that society. And in Sunday’s episode, there wasn’t a single Dothraki we recognized. Only Jorah Mormont, who translated Melisandre’s martial command to lift their swords for the lighting and then rode out with them. The editing even suggests that it’s the threat to Jorah — whose horse we see limping back to the castle immediately before we cut to Daenerys — that spurs her to break away from Jon and fly out with Drogon, not the loss of tens of thousands of people who overcame their fear of “poison water” to follow her across the Narrow Sea."
READ ARTICLE BY NINA SHEN RASTOGI
Meu textinho no tema “artista é tudo vagabundo”
ZECA FERREIRA
Em novembro do ano passado, filmamos na ilha de Paquetá, onde por acaso moro, o meu primeiro longa-metragem como diretor, “Noites de alface”, baseado no livro da incrível Vanessa Barbara. Ao longo de quatro semanas, tivemos, portanto, aquele adorável e e louco disco voador do cinema pousado aqui.
Orçamento justo, locações perto, mas sempre aquela história de leva refletor pra lá, busca o ator ali, atrasa o almoço meia-hora, antecipa o lanche, monta a tenda, desmonta, etc etc etc. No início da pré-produção, sugeri que tivéssemos pelo menos um carrinho elétrico (atualmente, em Paquetá temos carrinhos elétricos em substituição às antigas charretes) e sugeri que a produção conversasse com o Mauro, (condutor, ex-charreteiro, “nascido e criado” na ilha), que além do transporte, poderia nos ajudar com seu conhecimento do bairro e das pessoas. Não deu outra, Mauro, apelidado pela equipe de Maurão, estreou no cinema.
Orçamento justo, locações perto, mas sempre aquela história de leva refletor pra lá, busca o ator ali, atrasa o almoço meia-hora, antecipa o lanche, monta a tenda, desmonta, etc etc etc. No início da pré-produção, sugeri que tivéssemos pelo menos um carrinho elétrico (atualmente, em Paquetá temos carrinhos elétricos em substituição às antigas charretes) e sugeri que a produção conversasse com o Mauro, (condutor, ex-charreteiro, “nascido e criado” na ilha), que além do transporte, poderia nos ajudar com seu conhecimento do bairro e das pessoas. Não deu outra, Mauro, apelidado pela equipe de Maurão, estreou no cinema.
A filmagem transcorreu sem qualquer grande incidente, contando com a hospitalidade da população que quem conhece esse pedaço de chão no meio da Baía da Guanabara sabe como é. Faltando alguns dias para o fim da filmagem, o Mauro já estava dominando os tempos e espaços do set, e eu lembro de comentar com alguém da equipe: “o Mauro vai sentir o fim desse filme”. Porque, quem faz, sabe, o vazio depois de um processo longo de filmagem é algo palpável, quanto mais em quem vivencia aquilo pela primeira vez. O processo de construção de uma obra naquela soma de tantos esforços, saberes e habilidades é um negócio único.
Não deu outra.
Poucos dias depois do último corta, uma parte pequena da equipe ainda terminava a desmontagem, precisei levar minha filha para a escola (ela estuda no Rio) e liguei pro Mauro.
“Mauro, tá livre?”
“Tá precisando? Pra que horas?”
Lá fomos nós.
A distância entre a minha casa e a estação das barcas é bem pequena. Mas foi o tempo de trocarmos um pequeno diálogo que levo comigo, nas lembranças fundamentais que essa profissão me legou:
“Tá precisando? Pra que horas?”
Lá fomos nós.
A distância entre a minha casa e a estação das barcas é bem pequena. Mas foi o tempo de trocarmos um pequeno diálogo que levo comigo, nas lembranças fundamentais que essa profissão me legou:
“Pô, Zeca, acabou, né?”
“É, acabou, quer dizer , ainda tem um pessoal desproduzindo uma locação” (a essa altura, já falávamos na língua do cinema)
“É louco, né, Zeca? Forma como se fosse uma família e depois, de uma vez, acaba, vai todo mundo embora, cada um vai pra um canto.”
“Pois é, não é fácil não. Mas você ainda vai encontrar todo mundo de novo, quando a gente fizer a sessão de lançamento.”
“Lançamento? E eu tenho que ir, é?”
“Não é obrigado, claro, mas você vai perder a chance de ver o seu nome na tela do cinema?”
“Ué, vai ter o meu nome?”
“Claro, ué, você não trabalhou? Vai ter o nome de todo mundo que trabalhou no filme.”
Silêncio silêncio silêncio.
“Sabe, Zeca, depois desse filme, sou o primeiro a defender quando alguém vem dizer que isso que vocês fazem é coisa de vagabundo” (estávamos vivendo aquele clima de guerra pós eleição) “Porque, vou te contar, o pessoal rala nesse negócio. A gente ralou pra caramba, não é fácil não.” (uma observação aqui: no dia do nosso jantar de confraternização, o Mauro não foi porque, depois do set, precisava estar no seu plantão como vigia do hospital)
‘
Chegamos à estação, abri a carteira pra tirar o dinheiro mas ele não quis receber. Insisti, ele não aceitou, e me disse.
“Vou te falar uma coisa. Trabalhei até ontem, hoje peguei um passeio cedo e não ia mais trabalhar. Falei: hoje vou tirar a tarde pra tomar uma cerveja. Só vim porque era você.”
“É, acabou, quer dizer , ainda tem um pessoal desproduzindo uma locação” (a essa altura, já falávamos na língua do cinema)
“É louco, né, Zeca? Forma como se fosse uma família e depois, de uma vez, acaba, vai todo mundo embora, cada um vai pra um canto.”
“Pois é, não é fácil não. Mas você ainda vai encontrar todo mundo de novo, quando a gente fizer a sessão de lançamento.”
“Lançamento? E eu tenho que ir, é?”
“Não é obrigado, claro, mas você vai perder a chance de ver o seu nome na tela do cinema?”
“Ué, vai ter o meu nome?”
“Claro, ué, você não trabalhou? Vai ter o nome de todo mundo que trabalhou no filme.”
Silêncio silêncio silêncio.
“Sabe, Zeca, depois desse filme, sou o primeiro a defender quando alguém vem dizer que isso que vocês fazem é coisa de vagabundo” (estávamos vivendo aquele clima de guerra pós eleição) “Porque, vou te contar, o pessoal rala nesse negócio. A gente ralou pra caramba, não é fácil não.” (uma observação aqui: no dia do nosso jantar de confraternização, o Mauro não foi porque, depois do set, precisava estar no seu plantão como vigia do hospital)
‘
Chegamos à estação, abri a carteira pra tirar o dinheiro mas ele não quis receber. Insisti, ele não aceitou, e me disse.
“Vou te falar uma coisa. Trabalhei até ontem, hoje peguei um passeio cedo e não ia mais trabalhar. Falei: hoje vou tirar a tarde pra tomar uma cerveja. Só vim porque era você.”
Nos despedimos ali, o Mauro com os seus indefectíveis óculos escuros. Debaixo daquela lente havia, naquele exato segundo. um pouco do antídoto que tanto procuramos.
Menos ódio, mais cultura.
Obrigado, cinema.
Obrigado, cinema.
sexta-feira, maio 03, 2019
Game of Thrones: The Night King deserves better.

"Let’s start with the good: For most of its 82 minutes, Game of Thrones’ “The Long Night” was a tense, well-modulated, and gorgeously scored poem to apocalyptic terror. Unlike “Battle of the Bastards,” which repeatedly offered stunning bird’s-eye perspectives of military formations before zooming in to the chaos as it was experienced on the ground, director Miguel Sapochnik elected here to thematize darkness and silence and disorientation to eerie effect. This wasn’t about watching competing military strategies; it was about the end of strategy at the end of the world. Nothing was working, no one’s impulses or strategies aligned into anything effective, and destinies weren’t panning out. It seemed hopeless and irreversible and final."
read article by @Lili LoofBourow
Game of Thrones: The Night King deserves better.
It´s Only Words:
The act of singing has a kind of magic to me. It’s a kind of channeling. When I’m singing, I feel very much at peace, like I’m connected to something bigger than myself. That you can take people to that place with you, that’s a kind of physical magic, because you’re transcending yourself but you’re also bringing everyone with you. One of the most magical things we do as humans is singing, especially singing together. I think that’s partly why I was always obsessed with choirs, groups of voices that could reach higher than our physical selves. So it is a kind of alchemy. It’s hard to explain, but there’s definitely a sort of ritual to it.
- Florence Welch
Lava Jato's Biggest Failure

"But one question is rarely asked: Why, despite strong popular support for the operation and the massive cases uncovered by Lava Jato, has Brazil failed to meaningfully improve the rules governing its political system? Why has it not reduced the incentives that led to the rampant bribing and money laundering schemes in the first place?
Indeed, Brazil has been unable to seriously address issues such as campaign finance, lobbying, deficient electoral rules and party transparency. Brazilian politicians face unrealistic demands to fund campaigns. There are virtually no rules governing how private agents interact with public officials, including lawmakers – and of course they interact all the time. Plus, distorted electoral rules still lead to enormous fragmentation in legislative chambers, contaminating coalition-building efforts and favoring the existence of political parties with no clear ideology or program."
read article by roberto simon
Lava Jato's Biggest Failure | Americas Quarterly
Game of Thrones: Here’s why the Dothraki charge in the Battle of Winterfell was so chilling.

"The charge of the Dothraki is something different: Director Miguel Sapochnik uses every trick in the history of cinema—and the history of Game of Thrones—to mislead the audience about what’s going to happen. The result is one of the most chilling and heartbreaking scenes in the entire run of the show.
But before you can subvert an audience’s expectations, the audience has to have expectations to begin with. In the case of “The Long Night,” Sapochnik draws from a cinematic principle that was once also a military principle: A wave of horses charging directly toward you is absolutely terrifying. The first filmmaker to really lean into the idea was Eisenstein, who got a solid five minutes of tension out of an army of Teutonic knights on horseback galloping toward Russian soldiers in his 1938 film Alexander Nevsky. Here’s the urtext for every other cinematic cavalry charge that followed:
Game of Thrones: Here’s why the Dothraki charge in the Battle of Winterfell was so chilling.
PALAVRAS: Florence Welch
O ato de cantar tem uma espécie de magia para mim. É como canalizar algo. Quando canto, me sinto muito em paz, como se estivesse conectada a algo maior do que eu mesma. Que se possa levar pessoas para aquele lugar com você, isso é um tipo de magia física, porque você está se transcendendo mas também levando todos contigo. Uma das coisas mais mágicas que nós fazemos como humanos é cantar, especialmente cantar juntos. Penso que isto, em parte, é o motivo de eu estar sempre obcecada com corais, grupos de vozes que podem alcançar mais alto do que nossos seres físicos. Então é uma espécie de alquimia. É difícil de explicar, mas há nisto defnitivamente uma espécie de ritual.
- Florence Welsh
quinta-feira, maio 02, 2019
Game of Thrones season 8: military experts say Battle of Winterfell plan was bad - Vox
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/63694704/Helen_Sloan___HBO__15_.7.jpg)
"“The Long Night” was a great episode, but I’m not the only one pointing out that the military strategy and tactics on offer — especially by the Army of the Living — were pretty awful. The opening Dothraki charge was ill-advised at best. There seemed to be few defenses on the walls of Winterfell. And why didn’t Jon or Dany use their dragons to burn more giants and White Walkers?"
read the discussion>>
Game of Thrones season 8: military experts say Battle of Winterfell plan was bad - Vox
Beth Carvalho - A chuva cai [Argemiro Patrocinio) IN MEMORIAM
A chuva cai la fora
Você vai se molhar
Já lhe pedi, não vai embora
Espere o tempo melhorar
Ate a própria natureza,
Está pedindo pra você ficar
Vi: MARY QUEEN OF SCOTS (dir Josie Rourke, rot Beau Willimon, iInglaterra, 2018)
Equívoco historico e cinematografico. As mulheres são todas boazinhas e os homens são todos malvados. Rola até uma sororidade entre as rainhas notoriamente rivais.
O bom são as atuações da atrizes, Souirse Ronan e Margot Robbie.
Mas aí tem a versão com Glenda jackson e Vanessa redgrave.
The Battle of Winterfell’s worst person is the Night King.

"I think Jon’s choices this episode certainly earn him a spot in the discussion; besides his dumb Night King antics, he also tries to face down an undead dragon at the end of the episode. Who does he think he is? And the way that he is able to stumble through the living dead who’ve already murdered hundreds of people without really getting a beating is just galling. But I will say I think his idiocy doesn’t fully rise above the level of standard Snow stupidity we’re used to, so I’ll have to pass on him for this week’s WPiW."
read the discussion>> >>
The Battle of Winterfell’s worst person is the Night King.
Debatido em 23 dias, plano de Moro se amparou em apelo popular

"O projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro foi elaborado em ritmo acelerado, sem amparar suas propostas em evidências científicas nem debatê-las com a academia, a sociedade civil ou especialistas em segurança pública.
É
o que indicam documentos internos do Ministério da Justiça e Segurança
Pública (MJSP) liberados à reportagem da Folha de S.Paulo depois de
pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação."
leia mais>>
leia mais>>
Debatido em 23 dias, plano de Moro se amparou em apelo popular | GaúchaZH:
New York City Renames 63rd Street and Broadway as 'Sesame Street' in Honor of Show’s 50th Anniversary
Beth Carvalho - As Rosas Não Falam (Cartola) IN MEMORIAM
Devias vir
Para ver os meus olhos tristonhos
E quem sabe sonhavas meus sonhos
Por fim
(CARTOLA)
'Game of Thrones' na escuridão? Especialistas explicam dificuldade de entender Batalha de Winterfell |
"O episódio do domingo (28) de "Game of Thrones" foi criticado por alguns fãs por ser "escuro demais". Quem viu (ou melhor, tentou ver) a aguardada Batalha de Winterfell relatou nas redes sociais que foi complicado entender.
Para tentar esclarecer o terceiro capítulo da oitava e última temporada da série da HBO, o G1 conversou com diretores e especialistas. Em geral, todos concordaram em dois pontos:"
na reportagem de Braulio Lorentz
'Game of Thrones' na escuridão? Especialistas explicam dificuldade de entender Batalha de Winterfell | Pop & Arte | G1
quarta-feira, maio 01, 2019
Why You Couldn’t See a Damn Thing on This Week’s Game of Thrones

"This week’s Game of Thrones was ostensibly about the Battle of Winterfell, the final confrontation between the armies of the evil Night King and the forces of humanity. But for many viewers, the episode was much more than an epic battle: It was also a whirlwind tour of the limits of video compression algorithms and home video display technology. Which is to say that a lot of people couldn’t see anything. On Sunday night, Twitter was full of viewerscomplaining about the show’s cinematography, which has often been dark, but never quite so consistently stygian"
read more>>
Game of Thrones: The cinematography in the Battle of Winterfell was too dark for many viewers to see.
Strategic military analysis of the Battle of Winterfell in Game of Thrones.

"Most armchair analysis of the battle thus far, particularly on social media, has concentrated on the mistakes made by Team Alive, to the exclusion both of a careful account of Team Dead’s errors and of an appreciation for why Team Alive made the decisions it did. Here, using expertise developed through study and instruction at the United States Army War College, we examine with care how Team Alive overcame cultural and organizational impediments to develop and carry out the plan that defeated Team Dead."
read analysis by ROBERT FARLEY
Strategic military analysis of the Battle of Winterfell in Game of Thrones.
Vi: O ORNITÓLOGO (dir & rot João Pedro Rodrigues, Portugal, 2016)
Os ornitólogos gostam de ficar parados, em silêncio, observando aves e pássaros. Assim é este filme.
As coisas começam porém a adquirir ressonancias religiosas, de fé e purgação, repleto de símbolos e representações do cristianismo.
O final da parábola, entretanto, é um tanto frustrante.
Ataque do governo às universidades federais é tristemente ideológico -
]

"Estamos profundamente preocupados com a possibilidade de que o governo federal pretenda não apenas executar um corte nos orçamentos da UFBA, da UnB e da UFF – o que já seria grave e contrário aos interesses do país -, mas também iniciar uma política direta de controle ideológico."
leia mais>>
Ataque do governo às universidades federais é tristemente ideológico - UOL Notícias
Beth Carvalho - Goiabada Cascão (Wilson Morieira - Nei Lopes) IN MEMORIAM
Goiabada-cascão em caixa é coisa fina sinhá
Que ninguém mais acha
Rango de fogão de lenha
Na festa da Penha comido com a mão
Já não tem na praça mas como era bom
Hoje só tem misto-quente
Só tem milk-shake, só tapeação
Já não tem mais caixa de goiabada-cascão
Quilombolas são condenados a pagar R$ 6 milhões por incêndio que destruiu as suas casas.

"“Aqui não é casa, é um barraco, mas é aqui que nós vivemos. Imagine que você sai de casa com a sua família. Vem uma pessoa que não gosta de nós e coloca fogo em tudo. Você volta e não tem onde morar”, diz. “Daí o Ditão (como se refere a si mesmo) é multado e condenado a pagar uma multa milionária porque a casa dele queimou. E foi isso que aconteceu perto da nossa associação. Então nós estamos sendo réu inocente. Queimaram nossa casa e nós somos culpados.”"
leia reportagem de Thais Lazzari
Quilombolas são condenados a pagar R$ 6 milhões por incêndio que destruiu as suas casas.
Sob Bolsonaro, militares perdem popularidade

"Para a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, a realidade não está correspondendo à expectativa, e, por isso, o otimismo da população em relação ao governo militar se acomodou em um novo patamar, mais modesto. “Não é um movimento ideológico da opinião pública. É pragmático. O governo não está atendendo as expectativas quanto aos problemas mais imediatos das pessoas: emprego, saúde, educação e segurança”, avalia Márcia. “A expectativa do público era de que Bolsonaro fosse um governante forte, que resolvesse. Se não resolve, impacta negativamente todo o governo. E os militares são parte do governo.”"
leia analise de Jose Roberto de Toledo
Sob Bolsonaro, militares perdem popularidade
terça-feira, abril 30, 2019
Vi: SALT OF THE EARTH (dir Herbert Biberman, rot Michael Wilson, EUA, 1954)
Um dos filmes mostrados no documentário que vi antes, Red Hollywood.
Expulsos dos estudios de cinema, por seus pendores esquerdistas, este grupo se juntou para rodar um filme por conta própria. Salt of the Earth é considerado, assim, um dos primeiros - senão o primeiro - filme indpenente americano.
Foi o primeiro filme americano a ser favorável a uma greve. Foi o primeiro filme americano onde os protagonistas são latinos e não americanões brancos. E mostra a força das mulheres ao levar adianta a greve.
Game of Thrones season 8, episode 3: “The Long Night” winners and losers -
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/63689905/Courtesy_of_HBO__1_.7.jpg)
"Game of Thrones season eight, episode three, “The Long Night,” contains the biggest, most important battle in the history of the series. It’s filled with thrilling moments, last-second heroics, and characters escaping death by the skin of their teeth.
It’s also frequently completely incomprehensible. Sometimes, this is intentional — a lot of the episode takes place under cover of a snowy blizzard cloud the White Walkers call in to disorient the living, for example. But at other times, it seems incomprehensible for the sake of being incomprehensible.
It also creates a situation where Game of Thrones essentially has to reboot itself with three episodes left in its run. That’s not the end of the world — Game of Thrones, of all shows, knows how to completely reset its dramatic stakes — but after “The Long Night,” it feels a little harder to imagine that Cersei Lannister will pose much of a threat to the characters who remain alive. "
read analysis by Todd Vander Werff
Game of Thrones season 8, episode 3: “The Long Night” winners and losers - Vox:
segunda-feira, abril 29, 2019
domingo, abril 28, 2019
Vi: RED HOLLYWOOD (dir & rot Thom Andersen, Noël Burch, EUA, 1996)
Documentário dando uma geral em Holywood dos anos 30 aos anos 50, focando nos artistas perseguidos pelo macartismo e outros esquerdistas trabalhando no cinema. Interessdante a mudança de costumes nos Estados Unidos. Além dos absurdos do anticomunismo doentio. Mais interessante as citações (e amostras) de uma quantidade de filmes que eu desconhecia.
The only way ‘Game of Thrones’ can end

"HBO’s fantasy epic is staring down the quandary that faces all true water-cooler shows, and has been especially pressing in this so-called Golden Age of television. Can showrunners David Benioff and D.B. Weiss wrap up the story in a way that is satisfying to fans — some of whom have been longing for this conclusion since 1996 when George R.R. Martin published “A Game of Thrones” — and more importantly, in a way that is true to the show’s finest qualities?
Trying
to accomplish both of these sometimes-contradictory goals is a
tremendously difficult task, even for the most accomplished television
shows. “Sex and the City” and “Breaking Bad” both whiffed, the former by going full fairy-tale,
the latter by allowing its meth-cooking high school teacher to reinvent
himself as an action hero even after acknowledging that he was a
monster. “The Shield”
succeeded by delivering an incomplete reckoning to crooked cop Vic
Mackey (Michael Chiklis) that highlighted both the value of his
pursuers’ persistence and the difficulty of achieving accountability.
And “The Sopranos” achieved immortality and launched a thousand speculations with its now-infamous cut to black.
Despite the years I’ve spent reading, watching and writing about “Game of Thrones,” I don’t know where the series is going to finish. But if the series is to conclude with integrity, I know exactly how it should end: with no one sitting on the Iron Throne."
Posto de Atração - Eliakin Rufino
dentro da mata fechada
do bosque sagrado do nosso chão
homem branco preparou
um posto de atração
A DERRADEIRA ANÁLISE DA OBRA DE OLAVO DE CARVALHO, PARA NUNCA TER DE LÊ-LO

"Como então classificar o mago de Richmond? Como o faríamos com Voltaire e Diderot, descontado o talento dos franceses. Olavo de Carvalho é um philosophe à brasileira: um livre-pensador, no salon littéraire do Cordão do Bola Preta. Ele ama a polêmica e exerce fascínio sobre muitos de seus ouvintes, porém mistura elementos caóticos em tudo que diz, sem muita preocupação com a coerência de seus argumentos ou a civilidade de sua retórica"
leia a extensa análise de João Pedro Sabino Guimarães
Marissa Nadler - For My Crimes
When they take me down the corridor
They secure my wrist with ties
I'll be tracing the outline
Of your body next to mine
I've done terrible things
Cold and careless lies
You can watch behind the glass as I
Pass through serpentine
They secure my wrist with ties
I'll be tracing the outline
Of your body next to mine
I've done terrible things
Cold and careless lies
You can watch behind the glass as I
Pass through serpentine
Please don't remember me
Please don't remember me
Please don't remember me for my crimes
Please don't remember me
Please don't remember me for my crimes
Baixo Nivel
"Por essa e outras, sempre vi com desconfiança as hiperbólicas comparações que, no calor da campanha eleitoral, fizeram entre Bolsonaro e Hitler, Bolsonaro e o fascismo, Bolsonaro e Mussolini. O Reich nazista ao menos se esforçou para cooptar Lang e Riefenstahl. E Mussolini construiu os estúdios de Cinecittà.
Bolsonaro podia ter feito de José Padilha a nossa Leni Riefenstahl. (Nossa, não, a sua, dele.) Mas dormiu no ponto, preferiu ficar fazendo ameaças (extinguir o Ministério da Cultura, acabar com a “desgraçada” Lei Rouanet, promover expurgos no sistema educacional, tirar o emprego de todos os “comunistas” ao alcance do seu mando, etc.), selecionando a dedo os piores auxiliares disponíveis, fomentando o ódio, brigando com seu vice e os filhos, quando não disparando disparates no Twitter, a prova cabal de que seu avatar nunca foi Hitler, nem Mussolini, mas Trump.
Vai daí que Padilha teve tempo de se decepcionar e afinal se indispor publicamente com o bolsonato. Resultado: não teremos uma continuação de O Mecanismo, que os bolsominions aguardavam em patriótico suspense, quem sabe esperançosos de que dessa vez Padilha, ao exaltar na tela o triunfo da vontade de 57 milhões de eleitores, finalmente tomaria o lugar de Kleber Mendonça Filho nos festivais de cinema da Europa."
LEIA ARTIGO DE SERGIO AUGUSTO
e o blog0news continua…
visite a lista de arquivos na coluna da esquerda
para passear pelos posts passados
ESTATÍSTICAS SITEMETER