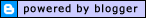Henrique Artuni
É difícil retraçar de que matéria é feita a obra de David Lynch. Não apenas pelo susto de perder um dos maiores cineastas de sua geração, aos 78 anos, nesta quinta-feira —o que por si só é vertiginoso—, mas pela própria natureza convulsiva das imagens que criou.
São cinco décadas de carreira, atravessadas por uma visão peculiar a
ponto de fundar o adjetivo "lynchiano", que contamina desde seus curtas
mais obscuros até seus maiores sucessos, em filmes como "Cidade dos Sonhos" e com a série "Twin Peaks", que o fez cair nas graças do público global ao levar seus delírios à televisã.
Um momento em particular pode traduzir a grandeza deste olhar.
No fim da segunda temporada da série, em 1991, o ator com nanismo
Michael J. Anderson sai de trás das cortinas vermelhas de um salão de
piso em zigue-zague preto e branco e dança suavemente, estala os dedos
ao som do saxofone de "Sycamore Trees".
O agente Cooper de Kyle MacLachlan,
assiste atônito, paralisado na poltrona, sem reação. Eles se encaram.
Os diálogos, com a faixa sonora tocada ao contrário, não têm conexão,
fala-se de um chiclete que voltará à moda, sobre uma terra onde há
sempre música pelo ar. Será, então, que ouvem o jazz de Angelo Badalamenti ao fundo, como nós?
A câmera volta para Cooper, subitamente cheio de rugas. Surge outra
figura, um velho de gravata borboleta e uma xícara de café na mão, que
ulula e grita: "Aleluia." Outro corte. Já não há mais velho, Cooper
agora está cara a cara com Laura Palmer, a tal personagem de Sheryl Lee
que, na primeira temporada, todos queriam saber quem matou. Luzes
piscam, sabe-se lá da onde. São as lâmpadas fora de cena que conectam o
mundo material e o espiritual, a dimensão do real e do imaginário.
A essa altura do campeonato, Lynch já havia contrariado os
espectadores —o culpado pela morte de Laura Palma nunca foi o centro de
"Twin Peaks". A projeção televisiva da série, na verdade, só ajudou a
fazer do mundo o espectador de um grande inventor de imagens —seja no
cinema, nas artes plásticas e até na música, áreas pelas quais Lynch se
movia sem fronteiras.
Afinal, podemos teorizar sobre o significado das luzes piscantes em
quase todas as suas obras. Essas que ele, ao lado de diretores de
fotografia como Peter Deming, soube domar tão bem, como trovões, pelos
mistérios de "Estrada Perdida", de 1997, entre raios bem marcados, atravessando a fumaça, os fluidos e os resíduos humanos.
Luzes ainda que, integradas às distorções do mundo digital no excessivo "Império dos Sonhos", de 2006,
borraram literalmente as fronteiras entre a tela e o espectador, entre a
produção e a visão passiva da plateia. Aliás, tema fundamental de sua
obra: como reagimos às imagens? E neste sentido, junto de MacLachlan,
Laura Dern foi a melhor atriz a incorporar essa radicalidade na obra
lynchiana.
Mas quando questionado, Lynch sempre foi muito direto ao comentar
suas obsessões, sem pedantismo. "Eu amo eletricidade", disse ele numa
entrevista, em 2019, a respeito de uma exposição de esculturas e
pinturas suas. "Eu amo lâmpadas, especialmente as antigas, da época da
criação da eletricidade e da luz, seus filamentos, o vidro e seus
formatos."
Declarações como essas, os simples video-diários que o artista fez
pelo YouTube durante a pandemia, seu vício em café e outras miudezas
iluminam mais a compreensão dos seus trabalhos que as mil e uma teorias
dos fãs para ao urro de Laura Palmer, 25 anos mais velha, ao fim de
"Twin Peaks: O Retorno".
Nesta que foi a última obra-prima de Lynch, lançada ao longo de 2017
num complexo quebra-cabeça em 18 episódios, o berro remete àquele de
décadas atrás, enquanto ela (ou seu duplo) sapateava pelo salão de
veludo vermelho para um agente Cooper tão paralisado quanto o espectador
na poltrona de casa.
E eis aí o impacto das imagens de David Lynch —nos provocar a
imobilidade diante do mal. Leia-se um mal que foge da compreensão
humana, mas que se manifesta concreta e orgasticamente em tantas de suas
criações, como no cabeludo Bob de "Twin Peaks" ou nos gângsteres de Dennis Hopper, em "Veludo Azul" —que transa com qualquer coisa que se mexe—, ou de Willem Dafoe em "Coração Selvagem".
Seres de mil formas e faces, que podem habitar Hollywood, os
subúrbios americanos ou uma cidade isolada no coração da América. É a
América e seus sonhos mais sombrios, afinal, a matéria das imagens de
David Lynch.
Mas não com uma visão moral, ou amoral. Ao reconhecer o mal como uma
energia tão verdadeira quanto a eletricidade, Lynch fez seu diagnóstico
do mundo pelo surreal. O mal simplesmente é, estejam as lâmpadas acesas
ou apagadas.]
FOLHA