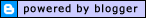Saiu nesta Folha, na coluna Painel S.A.: “Restaurantes querem aportuguesar o take away na pandemia”. Era o dia 1º de abril, mas não se tratava de uma pegadinha com o leitor.
O texto era sério e explicava que o modelo em que “o cliente vai até o estabelecimento, a pé, buscar a refeição” se tornou “conhecido no Brasil depois da quarentena”.
Éramos informados de que, embora o intrigante conceito comercial tenha semelhanças com o de drive thru –“que recebe o consumidor de carro e já é tradicional por aqui há décadas”–, a troca de rodas por sapatos traz novos desafios.
“Além de take away, os restaurantes chamam o modelo de pick up, to go, grab and go e outras variações de expressões em inglês com o mesmo significado de pegar e levar”, prosseguia a nota.
“Se a gente não unificar isso, cada lugar do Brasil terá um entendimento diferente”, angustiava-se o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.
Adorei o humor involuntário da coisa, fundado no pacto de invisibilidade —do qual se espera que o leitor participe— da expressão “para viagem”. ]
Anterior não só à pandemia atual, mas também à da gripe espanhola, a locução “para viagem” goza de consagração popular e lexicográfica.
Informando tratar-se de um brasileirismo informal, o Houaiss a define assim: “acondicionado em embalagem, para ser levado e consumido em outro local (diz-se de comida, alimento)”.
Quer dizer que os brasileiros já sabiam ser possível comprar uma refeição no restaurante e levá-la para casa antes que os americanos nos ensinassem a fazer isso com seu mind-blowing conceito de take away ou grab and go?
Aparentemente, sim: já se levavam quentinhas cheias de bolinhos de bacalhau para casa na República Velha, quem sabe até no Império. Por incrível que pareça.
Como explicar então a hilariante —a princípio, e logo também perturbadora— invisibilidade de “para viagem” no impasse tradutório da associação de restaurantes?
Imaginei um conto de fadas em que o povo de certo burgo começasse a esquecer o nome das coisas, numa espécie de demência coletiva, sendo forçado a adotar palavras importadas para os atos mais rotineiros.
“Ah, se tivéssemos um nome para essa bebida preta que tomamos depois de acordar!”
“Você quer dizer, na morning?”
“Sim, a bebida da morning. Essa preta aromática.”
“Mas nós temos um nome: coffee.”
“Ah, é, obrigado. Me passa a butter?”
O leitor não deve imaginar que o colunista compartilhe qualquer traço de xenofobia com o ex-deputado Aldo Rebelo, que 20 anos atrás tentou enquadrar os estrangeirismos numa lei ridícula.
A mania anglófila que mesmeriza parte da sociedade brasileira —um fenômeno de classe média e alta concentrado nos setores corporativo e marqueteiro— é jeca, mas não é motivo de alarme.
Os restaurantes nem precisariam traduzir take away, como nunca traduziram drive thru. Línguas assimilam isso bem. O que causa espanto é que, buscando uma tradução, não enxerguem a que está debaixo do seu nariz.
A quem quiser entender por que palavras importadas não nos fazem mal, recomendo o livro “Estrangeirismos – Guerras em Torno da Língua” (Parábola), organizado por Carlos Alberto Faraco e lançado no calor da polêmica aldo-rebeliana.
O caso do take away me fez voltar a ele, mas não encontrei nada sobre o fenômeno de demência coletiva que apaga expressões populares como “para viagem”. Quem sabe entramos numa nova fase.
FOLHA














:format(jpg):extract_cover()/https%3A%2F%2Fcdn.vox-cdn.com%2Fthumbor%2FnHAi3q9zigAdERA23NP2bEFtmiM%3D%2F0x0%3A1800x1200%2F1200x800%2Ffilters%3Afocal(800x315%3A1088x603)%2Fcdn.vox-cdn.com%2Fuploads%2Fchorus_image%2Fimage%2F69185451%2Fnomadland.0.jpeg)