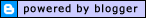Ficamos, quase todos, um tempo suspensos no ar até que se abrisse um buraco sob os nossos pés: Pelé estava morto. E o mistério da morte sempre suscita em nós, de forma inevitável, memórias e reflexões.
Pelé
transcendeu isso tudo. Ele mos-
trou, por meio de seu futebol e de sua
história, que o sentido da vida está aci-
ma de nossas vãs filosofias, e até mes-
mo das ideologias. Ele foi único, como
cada um de nós.
O conservador Pelé demonstrou de
que forma se pode, por meio da simpli-
cidade, alcançar o que de mais comple-
xo há em uma vida. Ele, com sua arte, foi
reverenciado rigorosamente por todo o
arco da diversidade humana.
Pelé nasceu como um artista pron-
to. Sua essência está explicitada na ima-
gem que traz no seu olhar e no seu sorri-
so – das últimas às primeiras. Houve um
tempo em que se atribuía aos seus olhos
esbugalhados a capacidade da visão pa-
norâmica exibida em seu modo de jogar.
Uma das primeiras imagens de Pelé a
ficar cravada na minha memória remonta
à minha infância. Quando garoto, fui le-
vado por um primo mais velho ao Estádio
do Pacaembu, em São Paulo, para assistir
ao jogo entre Paulistas e Pernambucanos.
Lembro-me de ver, em um campo mo-
lhado pela chuva, uma bola passada com
força à meia altura e ele, simplesmente,
deixou que ela batesse no peito do pé e,
cobrindo seu marcador, fosse encontrar
o ponta-esquerda, livre, para avançar até
a linha de fundo.
Contar jogada por jogada inesquecível
levaria todo o tempo do século no qual ele
foi escolhido o melhor atleta – não só jo-
gador. Mas, antes dessa imagem que ci-
tei, houve outra, em um cinema, ainda
em São Paulo, perto do Largo Santa Ifigê-
nia, região central da cidade, logo depois
do desembarque da sagrada Seleção de
58 com o nosso primeiro título mundial.
No quinto gol da final, ele apenas dei-
xou que a bola do cruzamento tocasse
sua cabeça e, resvalando na trave, fos-
se morrer mansamente no fundo da re-
de, deixando o goleiro agarrado à bali-
za depois de tentar, inutilmente, impe-
dir o desfecho.
Ao surpreendente lance sucedeu-se
um turbilhão de imagens repisadas pela
televisão. Impossível esquecer do apare-
lho em preto e branco do vizinho, diante
do qual eu, garoto apaixonado pela bola,
passava a seguir ainda mais fielmente o
conselho do sábio popular: “Agarrado à
bola como a um prato de comida”.
São até hoje vívidas aquelas peloti-
nhas negras, que pareciam fantasmas
dentro da camisa do Santos F.C. Que
saudade me bate agora dos amigos Dor-
val, Coutinho etc.
Anos depois, eu teria a felicidade de
compartilhar, dentro do campo, a mes-
ma camisa peixeira e também encon-
tros como adversários. Mas o maior dos
encontros foi mesmo o do “Passe Livre”.
Como Ministro dos Esportes, entre
1995 e 1998, Pelé, mesmo depois de ter
deixado o cargo, fez questão de levar às
últimas consequências o ato oficial da
abolição do “passe”.
Graças a ele tivemos a pá de cal nes-
se vínculo de natureza escravagista que
sempre fora uma “pedra na chuteira”
daqueles que, como eu, tiveram o fute-
bol transformado em profissão, tama-
nha a paixão pela bola.
Mais adiante teríamos ainda outros
encontros, sendo o mais significativo de-
les o momento no qual, convocados pelos
colegas da luta antimanicomial, utiliza-
mos o esporte como apoio ao tratamento
psiquiátrico. Essa iniciativa, que eu acre-
dito ser de suma importância, corria sé-
rios riscos justamente em Santos, que era
uma “ponta de lança” do projeto.
Menos tempo atrás, o companheiro me
convidou para tomar café em sua casa, no
Guarujá, mas fui adiando a visita e, diante
do agravamento de sua doença, não con-
segui visitá-lo em condições difíceis.
Esta semana, à última hora, depois de
muito chorar, criei coragem para prestar
uma homenagem ao amigo e fui a Santos
acompanhar sua despedida.
Adeus ídolo, companheiro e amigo.