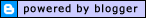Carta a quem de nós ainda vive
VENY SANTOS
Não nos conhecemos pessoalmente, mas em outros textos nos encontramos durante despedidas de tantos irmãos e irmãs que se foram. Trabalhadores, grávidas, crianças. Lembro que conversamos sobre ser também uma forma de genocídio o eterno luto ao qual somos condicionados. Um obituário por dia quando, na verdade, gostaríamos de escrever sobre temas outros. Temas vivos
Por aqui os tempos não vão bem. Sei que por aí também não. Longe, estamos juntos. A ligação vem de bem antes e a cada pedaço de história que resgatamos conseguimos nos contar. Somos muitos, a maioria do país. Dos mais escuros ao mais claros, dos traços sutis aos marcados. Queria poder reunir toda a nossa gente, negra gente, e finalmente ler, em voz alta, uma carta contando a respeito de tudo, menos da Mãe que morreu dentro da própria casa com tiros no rosto, enquanto seus netos ouviam os disparos no cômodo próximo. Já tinha perdido um filho da mesma forma.
Queria nos reunir, mas a história daqui, deste planejado cativeiro, mostrou que se estivermos em grande número e tentando sobreviver aos outros que nos caçam seremos declarados inimigos naturais. Aquilombar será sempre um risco.
Juntos, ainda assim, sem parecermos próximos demais. É um risco constante para os outros que nos caçam me ver no rosto de muitos e muitos no meu rosto. Faz parecer até que estamos em todos os cantos.
Como estão as crianças? As daqui vão indo daquele jeito. Criadas para serem infantis por pouco tempo. Obrigadas a entenderem as regras do jogo no intuito de sobreviver à adolescência e, quem sabe —geralmente ninguém, só as estatísticas— chegar à adultidade. É uma alegria quando as vemos imaginando o próprio futuro ou quando lhes é dada a oportunidade de trilharem os caminhos até ele. Conforme eu for lembrando dos fatos, conto aqui.
Chamou-me bastante atenção uma biblioteca comunitária que já comentei contigo em outros momentos, batizada com o nome da ativista Assata Shakur, que levou a molecada para conhecer o estádio de futebol do Corinthians, o Itaquerão. Tão simples, não é? Não. No mundo real, da gente negra, a criança sair de sua vila e não ser baleada não é algo simples. Seja fogo cruzado concreto —que perfura uniforme escolar e rubeja o asfalto logo cedo— ou simbólico, do tipo em que se fuzila a autoestima de meninos e meninas ao entregar-lhes bananas e macacos como "presentes", mira-se nas crias para que estas não se criem. Miram o recomeço. Ações que vão de encontro a essas balas todas eu faço questão de te contar, para você contar para os seus e suas também. A gente precisa se contar mais, inclusive para nós mesmos.
Vê? Eu tento escrever algo leve para te mandar, corriqueiro, do tipo conversa morna em fim de tarde, tomando um café, um chá, cerveja, olhando para o nada e vendo o absoluto sossego. O que é sossego? Tentamos deixar arder, não se preocupar, mas de que jeito? Ainda tem uns por aí que insistem em dizer que somos preguiçosos, trabalhamos pouco, vivemos na moleza. Desde quando é tranquilo e pouco puxado passar dos 30 sem ser morto? Gente negra. Aquela que morre mais dentro do crime e da polícia. Maioria em tudo o que a minimiza.
Não se esqueça de me contar como você está por aí. Não queria que esta fosse uma carta rácica, mas agora já foi.
Ultimamente tenho pensado muito em alguns dos nossos com quem tive contato por textos, só que os li como correspondência a mim dedicada. Você já teve disso? De ler um desconhecido mais próximo de você do que muito parente? Numa das cartas, um deles, Marcus Garvey, dizia que somos um povo só, então deve ser por essa razão que nos sentimentos íntimos do mundo da gente negra. Para o bem ou para o mal, na alegria ou na tristeza, um só povo. Você sabe que, apesar dos pesares, estamos aí. Em todos os cantos. É tanto —e são tantos— para falar numa carta cuja folha curta corta o papo que eu volto em outra, mais para frente. Torço para que você ainda esteja por aí.
Escreverei enquanto estivermos vivos. Parece óbvio, mas você me entende.
FOLHA