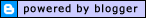A advogada que desafiou a ditadura e o general símbolo da repressão

Bernardo Mello Franco
Eny Moreira estudava Direito em Juiz de Fora quando leu um perfil de Sobral Pinto, o lendário defensor de presos políticos. Largou a revista e avisou a mãe: “Vou trabalhar com esse homem”. Determinada, viajou para o Rio e madrugou à espera do advogado na porta de uma igreja. No dia seguinte, estava contratada como estagiária. A parceria se estenderia por 15 anos.
Conhecida pela coragem, Eny chegou a ser presa duas vezes. Não se limitou a defender as vítimas do autoritarismo. Também denunciou as torturas praticadas nos porões. Em 1971, pediu a abertura de inquérito contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-Codi paulista. Protestava contra as agressões ao estudante Paulo Vannuchi, que 34 anos depois se tornaria ministro dos Direitos Humanos. “Minha petição sumiu como num passe de mágica, nunca foi tomada providência”, contou, em entrevista para o livro “Advocacia em tempos difíceis”.
Eny denunciou a farsa do julgamento de Virgílio Gomes da Silva, participante do sequestro do embaixador americano. Na tribuna, disse o que as autoridades fingiam ignorar: o guerrilheiro já havia sido morto na tortura. Irritado, o juiz cassou sua palavra e ameaçou expulsá-la do tribunal.
A advogada presidiu o Comitê Brasileiro pela Anistia e ajudou a coordenar o projeto “Brasil: Nunca Mais”, que identificou torturadores e torturados. Em 2012, emocionou-se ao lembrar a busca por desaparecidos. “Aprendi com o doutor Sobral que a gente não era corajoso. O que a gente tinha era uma enorme capacidade de se indignar com a violência”, resumiu.
Eny não se conformava com o uso da Lei da Anistia para proteger agentes da ditadura. “Não podemos falar em anistia para os acusados da prática de tortura, porque não se pode anistiar quem não chegou a ser punido”, repetia. Uma ação sobre o tema adormece no Supremo desde 2014. A advogada não verá o desfecho do caso. Morreu nesta terça-feira, aos 75 anos.
Dezesseis anos mais velho, o general Nilton Cerqueira era um Forrest Gump da repressão. Participou da execução de Carlos Lamarca, do cerco à Guerrilha do Araguaia e do atentado do Riocentro. Em 1994, elegeu-se deputado com discurso semelhante ao de Jair Bolsonaro, de quem foi amigo e colega de partido.
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) tentou convencer Cerqueira a colaborar com a elucidação de crimes da ditadura. Em 2013, ele chegou a justificar o extermínio de guerrilheiros: “Prender você não põe como opção”. No ano seguinte, reivindicou o direito ao silêncio, que os militares não ofereciam a suas vítimas. Em 21 minutos, repetiu 11 vezes não ter “nada a declarar”.
A CNV responsabilizou o general pela morte de 11 pessoas, incluindo Lamarca, sua companheira Iara Iavelberg e o ex-deputado Maurício Grabois, cujo corpo nunca foi encontrado. Cerqueira chegou a virar réu por tentativa de homicídio e associação criminosa armada no caso Riocentro. Quando o procurei, garantiu não ter medo da Justiça: “É uma ação nefasta, remontando a situações que, graças a Deus, estão ultrapassadas”.
O general estava certo: o processo seria trancado antes de ir a julgamento. Ele morreu no último dia 31, aos 91 anos. O Comando Militar do Leste expressou “grande pesar” pela notícia. Bolsonaro, de férias na praia, não se manifestou.
globo