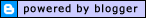RC 80

HUGO SUKMAN
Eu já fui brasileiro e sei o que é isso: também tenho a obra do Rei na minha estante e, vá lá que uma parte pequena dela, no meu coração.
(Prefiro a definição ipanemense, ou melhor new-yorkaise do Tom Jobim, Roberto Carlos é o nosso melhor compositor de música ruim).
Jornalista brasileiro, já o entrevistei algumas vezes e escrevi sobre ele outras tantas. Uma, uns 16 anos atrás quando a Sony lançava essas caixas com sua obra (verdadeiras “pedras de Drummond” no nosso caminho), chamou-se “O brasileiro canta o brasileiro”, sobre a pedra do meio, a dos anos 70, a maior, e dizia assim:
Se o Roberto Carlos que conhecemos fosse o Roberto Carlos dos anos 60, ele estaria hoje por aí percorrendo os programas vespertinos de TV, a lembrar com ternura das “jovens tardes de domingo”. Em noites de sorte cantaria ao vivo no “Ratinho”.
Mas teve os anos 70 no meio do caminho que, como a pedra de Drummond, são postos no caminho em forma de uma caixa de 12 CDs. Não 12 CDs quaisquer, 12 CDs, ou melhor, 11 (um é o Rei narrando a versão brasileira de “Pedro e o lobo”, gravada pela Filarmônica de Nova York) clássicos da canção brasileira popular, o que importa ter e ouvir da obra de Roberto Carlos, os discos que o consagraram como intérprete do inconsciente brasileiro, donde sua pétrea popularidade.
E olha que Roberto começou estranhamente mal a década: abre o LP de 1970 com um roquinho jovem-guardista, “Ana”, destoando tanto do que de melhor fez antes - um “De que vale tudo isso”, em 67, um “As curvas da estrada de Santos”, um “Sua estupidez”, em 68 - como o que de melhor apresentava naquele LP, o gospel apocalíptico “Jesus Cristo”. Esta, aliás, muito mais condizente com a fase negra, influenciada pelo soul, que Roberto vivia em contraposição à fase anterior, brancarrona, marcada por ie-ie-iês italianos.
O disco de 70 era um susto, não uma volta. Porque logo viria o de 71, o primeiro de uma série de nove em que a dupla Roberto e Erasmo, a cada Natal, desfilaria sua coleção de canções a traduzir e se eternizar no inconsciente brasileiro: “Detalhes”, “Todos estão surdos”, “Debaixo dos caracóis dos seus cabelos”, “De tanto amor”, só para ficar nos clássicos insofismáveis de 71. Que guarda maravilhas como a canção psicanalítica-kitsch “Traumas” (“Meu pai tentou me encher de fantasia/E enfeitar as coisas que eu via), no nível de um Vicente Celestino.
Aquele início da década marcava também uma guinada de Roberto rumo à maturidade musical, traduzida em sua busca, como intérprete, de um repertório mais qualificado. Assim, saem aos poucos os colegas de Jovem Guarda e entram, como fornecedores de canções, compositores como o crooner (de Ed Lincoln) Sylvio César e suas magníficas “Pra você” (1970) e “O moço velho” (1973); os modernos Fagner e Belchior de ”Mucuripe” (1975); o Caymmi clássico de “Acalanto” (1972); o Ivor Lancellotti de “Abandono” (1979); o Caetano de “Como dois e dois” (1971), “Força estranha” (1978) e a canção que melhor traduz o Rei, “Muito romântico” (1977), dos versos “Tudo que eu quero é um acorde perfeito, maior/Com todo mundo podendo brilhar/Num cântico”, a defesa ideológica da simplicidade e da identificação do Rei com seus súditos, do brasileiro comum que faz sua arte para e sobre o brasileiro comum, a força estranha que guia Roberto.
Pois, gostemos ou não, é dessa massa que somos feitos, do paí que chega em casa e sonha com “Quando as crianças saírem de férias” (1972), e “talvez a gente possa se amar um pouco mais”. Depois, no motel, pedir o “Café da manhã” (1978) e se esquecer da vida “nos lençóis macios”. Mas ao mesmo tempo voltar a ser criança em “Lady Laura” (1978), louvar a Deus em “Fé”, a amizade em “Amigo” (1977), preocupar-se com “O progresso” (1976), chamar a namorada para dançar a “Música suave” (1978). Como se é brasileiro, fazer um samba como “Além do horizonte” (1975), cantar boleros como “Solamente una vez” (1977). Amar, sofrer e cantar como um homem comum, talvez seja essa a pedra no caminho do Re