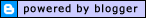O auxílio emergencial como medida de saúde pública

MONICA DE BOLLE
O Brasil vive dias alarmantes com a escalada ininterrupta da epidemia, os óbitos diários alcançando o patamar de 3 mil, o número total de mortos pela Covid-19 prestes a bater os 300 mil, e o colapso hospitalar generalizado país afora. Em nota recente, a Fundação Oswaldo Cruz afirmou que o país vive o maior colapso sanitário de sua história, o que não é pouca coisa quando consideramos o panorama histórico de doenças infectocontagiosas nos últimos dois séculos. Em meio a essa catástrofe, sem vacinas e com um presidente da República que se recusa a proteger a população, nos ofereceram a adoção de um auxílio emergencial irrisório. Não bastasse mais essa ofensa, há economistas brasileiros que consideram ter sido o auxílio no valor de R$ 600 do ano passado “excessivo”.
Que fique claro: o auxílio emergencial não é apenas uma medida econômica. Na realidade, para aqueles que realmente entendiam do assunto e estavam a defender a adoção do programa e sua continuidade desde março do ano passado, o auxílio emergencial sempre foi visto como uma medida de saúde pública sem a qual o fechamento de estabelecimentos não essenciais e a interrupção da circulação de pessoas não seria possível. Já sabemos que essas chamadas “intervenções não farmacológicas” salvam vidas. O que não falta, hoje, são estudos comparando as experiências de países diversos com essas medidas, suas características e intensidades — além da adesão da população — para mostrar que quando bem implantadas e obedecidas, quando impulsionadas pelas principais lideranças políticas nacionais, elas funcionam. Como assim, funcionam? Para os que ainda se fazem essa pergunta, funcionam ao interromper as cadeias de transmissão do vírus evitando que casos e mortes se multipliquem. Para quem ainda tem dúvidas sobre essa afirmativa, sugiro um rápido passeio pelo Google Acadêmico à busca de artigos científicos mostrando os dados que sustentam o que acabo de escrever.
Não há leitos de UTI em boa parte dos estados do país. O que isso significa é não apenas a falta de atendimento hospitalar para os pacientes com Covid-19, mas a falta de atendimento para todos. Quebrou o braço? Não vai dar para engessar. Enfartou? Não haverá procedimento de cateterização e colocação de stents. Precisa operar com urgência uma apendicite? Sinto muito. É essa a realidade do colapso da saúde que muitos ainda se recusam a ver. Dessa vez não serão os mais pobres a serem atingidos com maior violência, mas todos. O colapso não discrimina renda, raça, gênero, ou seja lá o que for. Mas, ah! O déficit! A dívida! A inflação! O déficit? A dívida? A inflação?
A realidade é uma, apenas: o Brasil precisa fechar para não morrer.
O déficit, a dívida, a inflação são problemas que se resolvem com medidas futuras — deles, há volta. Da morte, não há volta. Do colapso, não há retorno. O Brasil só pode fechar se houver auxílio adequado para todas as famílias que não têm como sobreviver sem sair às ruas para trabalhar. Que auxílio é esse? Seria o de R$ 150 a R$ 300 proposto pela equipe econômica? A mesma equipe econômica liderada pelo ministro que, há um ano, batia no peito e declarava que com R$ 5 bilhões acabaria com o vírus? Essa equipe e esse ministro já mostraram não ter qualquer entendimento sobre o entrelaçamento saúde-economia.
Em São Paulo, a cesta básica custa R$ 630. No Rio de Janeiro, a cesta básica custa R$ 621. Em nível nacional, o preço médio da cesta básica é de mais de R$ 500. Os valores mais elevados do auxílio proposto pelo governo de Jair Bolsonaro não compram meia cesta básica em boa parte do país; o valor mínimo não cobre sequer a quarta parte desse montante. Chamar tais valores de inadequados chega a ser um eufemismo, sobretudo em se tratando do colapso que vivemos.
Economistas dizem que o auxílio vai quebrar o país, que causará inflação, que nos levará ao colapso? Saibam que já chegamos ao colapso. Saibam também que, no que diz respeito ao auxílio, economistas que nada entendem de pandemia ou de saúde pública nada têm a dizer.