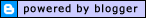A manipulação do medo
SERGIO AUGUSTO
Qual o pior ano de todos os tempos? As preferências apontam, por ordem cronológica, 536, 1349 e 1933. Em 536, um misterioso nevoeiro anoiteceu de repente a Europa e parte do Oriente Médio, que ficaram às escuras durante quase dois anos. Em 1349, a Peste Negra chegou para dizimar metade da população europeia. Em 1933, Hitler assumiu o poder na Alemanha.
Numa nova pesquisa, aqueles três anos malditos talvez fossem sobrepujados pelo que estamos vivendo há oito meses. Afinal, em 1349 também havia uma pandemia, mas não havia Donald Trump; aliás, nem América, e muito menos Bolsonaro. Em 1933, havia Hitler (o Trump original), mas nenhuma pestilência.
De mais a mais, as desgraças que vivenciamos sempre nos parecerão incomparáveis. Até por isso 2020, ainda com quatro meses pela frente, pega fácil um placê entre os piores anos de todos os tempos. Deu –ou está dando – tudo errado. Para todo mundo, inclusive para a intocável Lava Jato e a máfia evangélica, dois baluartes do governo Bolsonaro.
O Capitão sacrificou vidas humanas em prol da economia, e tubulou nas duas frentes: quase 130.000 mortos pela covid-19 e uma queda de 9,7% no PIB. Trump foi duplamente derrotado pelos chineses: pela covid-19, que ele, levianamente, chama de “vírus chinês” (responsável por quase 200.000 mortos, por enquanto) e pelo PIB do “inimigo” (11,5% positivos contra 9,1% negativos dos EUA).
Neste exato momento, com o democrata Joe Biden desfrutando ainda de razoável vantagem na corrida presidencial, mesmo depois da convenção republicana, em que o demonizaram impiedosamente como velho gagá, “agente do governo chinês”, sem fibra para conter a violência nas ruas e a pandemia etc, a situação de Trump é pouco confortável.
A 60 dias do duelo, o ogro alaranjado, à falta de um estratagema menos estúpido, radicalizou ainda mais. Desistiu de ampliar seu eleitorado além do curral; e, a exemplo de seu sucedâneo tupiniquim, investiu tudo na bugrada fanatizada que o segue cegamente e também na hipótese de voltar a vencer no tapetão, ou seja, no Colégio Eleitoral, uma especialidade dos republicanos.
Bolsonaro, sem alternativa similar e com mais dois anos pela frente para se afundar na preferência popular, está em pior situação. E que tende a piorar se Trump, para gáudio da humanidade, perder em novembro.
Biden é um candidato bastante vulnerável, um mais-do-mesmo democrata, o establishment com bons modos, uma pessoa tida como íntegra e civilizada, tremenda evolução na atual conjuntura, mas ainda pouco para romper o marasmo que Bernie Senders prometia sacudir.
No final do século passado, Gore Vidal disse reiteradas vezes que a América era um país de partido único. Não distinguia diferenças relevantes entre os dois partidos, mais que hegemônicos, oficiais. Mesmo concordando, não há como menosprezar a corrosão dessa simetria ao longo dos últimos 20 anos. E, com vigor inaudito, na Era Trump.
A Convenção Republicana da semana passada provou, de forma insofismável e assustadora, que o Grand Old Party não é mais um partido –a legenda dos conservadores e reacionários de variada pelagem –mas um feudo, uma propriedade privada de Trump, seu Mar-a-Lago partidário, uma coligação que parece ter sido fundada em 2016, não mais aquela que elegeu Lincoln presidente –ou mesmo Ronald Reagan, que até pouco tempo atrás era reverenciado como o símbolo máximo dos ideais do partido e agora é um “pária” entre seus pares ideológicos.
Comparado a Trump, Reagan é um Sir Galahad, quase um Rei Arthur, quiçá um Churchill. E o mesmo se pode dizer de qualquer presidente do Brasil se comparado a Bolsonaro, sem exclusão de Collor, Sarney e Temer.
Antes, durante e depois do discurso de Trump como candidato único à própria sucessão, ele e sua corte de chaleiras promoveram um chorrilho de leviandades, mentiras e cruéis ofensas ao adversário, como nunca se viu igual, nem nas campanhas de Nixon, o verdadeiro avatar do ogro alaranjado, que se comporta como um Führer, um Duce, igualmente hidrófobo e caricatural.
Instilar o medo na população é uma velha tática de politiqueiros de direita, que dividem o mundo em “nós” e “eles” (os ímpios, apóstatas, anarquistas, comunistas, mexicanos, muçulmanos, imigrantes, feministas, ativistas do Black Lives Matter, e quem couber no balaio das teorias conspiratórias disponíveis), bullying maniqueísta de sucesso mundial, que, sob o mantra da “lei e da ordem”, também prosperou no país da Flordelis.
Não me refiro à França, onde a fleur-de-lis identificava sua nobreza católica, mas ao Brasil, onde a homônima pastora evangélica e deputada carioca tornou-se um ícone da corrupção político-religiosa-sexual: uma sacerdotisa que rouba, explora e mata em nome de Deus.
A exploração demagógica e populista do medo com finalidade política é uma tradição americana que remonta aos pais fundadores da República, useiros e vezeiros em apelar para o temor aos estrangeiros e aos de pele escura. Benjamin Franklin fez terrorismo com fake news (e escalpos suspostamente arracandos de mulheres e crianças brancas pelos índios Senneka) durante a Guerra de Independência; os escravocratas, antes e depois da Guerra de Secessão, exploraram de mil maneiras o pavor que a população rural, sobretudo esta, sentia dos negros recém libertados.
O exemplo mais descarado da manipulação do medo em eleições americanas que conheço é um outdoor de mais ou menos 70 anos atrás, mostrando uma menina sendo encurralada por duas gigantescas mãos masculinas, acompanhada de uma alarmista promessa de que só haveria segurança nas ruas do país se todos votassem no Partido Republicano.